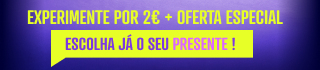Luísa Lopes: “O envelhecimento não é sentença de declínio”
O cérebro, no todo, ainda é um grande mistério. Mas sabe-se que o envelhecimento não traz o veredicto da perda de memória. Os hábitos de vida saudável podem atrasar as demências, como a doença de Alzheimer, diz Luísa Lopes.

Desenvolvimento do cérebro
Os neurónios com que nascemos são mesmo para toda a vida?
Sim, a maior parte dos neurónios que temos são aqueles com que nascemos, e isto acontece porque são o tipo de células pós-mitóticas, que, a partir de certa altura, não se dividem e não são substituíveis – ao contrário das células da pele ou do fígado, que se regeneram. Há 20 ou 30 anos, descobriu-se que havia o nascimento de neurónios no adulto. Constituem menos de 5% dos neurónios totais. Até aí, havia o dogma de que o nascimento dos neurónios só acontecia na fase embrionária, e que, quando um bebé nasce, há apenas diferenciação e novas sinapses, as ligações entre os neurónios. Estamos a tentar perceber para que é que nascem estes neurónios. Sabemos que há duas zonas do cérebro onde isso acontece. Uma é a zona do bulbo olfativo, para o olfato, e outra é a zona do hipocampo, crucial na memória, e onde surgem as lesões primárias na doença de Alzheimer. Está ligado à memória e à orientação espacial. Há uns pequenos nichos onde há neurónios novos. Não parecem ter capacidade de substituir outros que se perdem, e há situações em que são importantes. Por exemplo, quando há exercício físico, aumenta-se a capacidade de ter novos neurónios. Os antidepressivos também aumentam esta neurogénese no adulto. Podem ter impacto na memória, mas ainda não percebemos bem a sua função.
O que pode causar a morte dos neurónios?
Há marcadores que podem aumentar a morte dos neurónios e há fatores de risco para as doenças neurodegenerativas. Um deles é tudo o que causa inflamação, que são situações ligadas à má qualidade de vida. A diabetes, as doenças cardiovasculares, ou seja, problemas de hipertensão, de colesterol... Outro fator de risco é a agregação das proteínas, normalmente ligada às doenças neurodegenerativas. A disposição de agregados de proteínas, que são tóxicos – há marcadores da doença de Alzheimer, os agregados beta-amiloide –, e causa de morte de neurónios. Não sabemos se há uma causa subjacente, ainda mais primária. O álcool, as substâncias de abuso em geral, e os impactos físicos fortes, de forma crónica, como no futebol americano ou no boxe, também podem aumentar a morte de neurónios, e algumas doenças infecciosas. Infeções não tratadas ou que passem despercebidas [no cérebro] podem ser fatores de risco, ao longo da vida, para a morte neuronal. Um dos problemas mais conhecidos são os acidentes vasculares cerebrais. Há um corte do aporte de oxigénio e de glicose, um corte de circulação cerebral, causado, normalmente, por um coágulo. Dependendo da zona privada dessa circulação, vai ser afetada a linguagem, a zona motora... O que acontece sempre é que há morte – e é irreversível. Quanto maior a extensão, pior. Tenta-se fazer a reabilitação muito rapidamente, porque temos uma capacidade fantástica, mesmo em adultos, que se chama plasticidade sináptica, ou reorganização cortical. Há uma grande plasticidade das zonas adjacentes, e circuitos que compensam outros. Se fizermos fisioterapia, a probabilidade de recuperarmos o membro [afetado pelo AVC] é grande, não porque recuperamos os neurónios, mas porque outras zonas compensam. É uma capacidade extraordinária do cérebro, uma reconfiguração. Precisamos de reprocessar, e quanto mais depressa maior é a probabilidade de restabelecer a função ao máximo.
O declínio é inevitável?
No meu grupo, trabalhamos no envelhecimento normal, no envelhecimento fisiológico. Sabemos hoje que, num envelhecimento normal, não há grande perda de neurónios. Há alterações cerebrais, mas vão ocorrer em todas as fases da vida. Até aos dois anos, altura de formação de muitas sinapses, as crianças aprendem muito depressa a linguagem e a parte motora. É como se estivessem a estruturar a sua árvore neuronal. Perdem muitas das sinapses que tinham e começam a especializar-se. Daí o controlo motor mais fino, por exemplo. Ao longo da vida, e no envelhecimento, há sempre alterações – e na adolescência.
É verdade que atingimos o pleno das capacidades aos 30 anos?
É um mito urbano. Pode ter alguma lógica, porque é quando temos o cérebro completamente formado e ainda não começou nenhum declínio. Mas, mesmo aos 40, quando começa a haver alterações ligadas ao envelhecimento, as capacidades ainda estão muito ativas. Esta ideia de que começamos a perder capacidade não é verdade. Há muitas formas de compensação. Todos podemos decorar uma lista de supermercado, mas, se calhar, as estratégias que usamos são diferentes. E, com a idade, também vão sendo diferentes. O cérebro usa circuitos diferentes para atingir o mesmo fim, a partir das capacidades que (ainda) tem. Dependendo da pessoa, usam-se estratégias muito eficientes para que o resultado seja o mesmo. Porque é que algumas pessoas têm uma plasticidade maior? Tem que ver com a predisposição genética, mas muito vem de hábitos comportamentais, que podem, de facto, manter a função cognitiva quase no máximo por muito tempo. Há cinco zonas no mundo, as chamadas blue zones, que demonstram que há pessoas que conseguem viver até muito tarde com uma função cognitiva ótima, em continentes diferentes, com alimentações e heranças genéticas diferentes. O que têm em comum são os hábitos de vida. São comunidades mais pequenas, ainda têm uma grande atividade física, porque têm a sua horta, ou porque ainda trabalham, ou porque têm os animais. Vivem um espírito comunitário, portanto, não há isolamento social. Também há menor risco de doença mental, por causa dessa rede de apoio. Têm hábitos de vida saudáveis. Algumas têm dietas mediterrâneas, outras asiáticas, sem muitas gorduras e açúcares. Estas pessoas têm muito poucos fatores de risco. Têm menos doenças crónicas ligadas à civilização mais ocidental, como a América do Norte e a Europa, com muita diabetes e hipertensão, etc. Isso mostra-nos que é possível. Temos o poder de mudar. Dentro do envelhecimento, há muita coisa que está na nossa mão. Há muito mais consciencialização agora dos fatores de risco. Em 2015, por exemplo, foi feito um estudo em vários centros e com populações diferentes, na Europa, que mostrou que a incidência da doença de Alzheimer diminuiu. Pensa-se que isso está relacionado com uma maior consciencialização dos hábitos de vida saudável. As pessoas começam a tratar as condições crónicas mais cedo, a ter mais cuidado com a saúde mental e com o sono...
Com que idade o cérebro fica maduro?
O cérebro só fica completamente desenvolvido, atinge a fase de maturação, ou maturidade, na zona do córtex pré-frontal, da qual o António Damásio fala muito, por volta dos 21 anos. Há agora novos estudos que desafiam isto, mas, em geral, dos 18 aos 21, atinge a maturidade. O córtex pré-frontal é a zona da tomada de decisões, da consciência moral. Por isso é que há alguma relação com a idade de votar, das bebidas alcoólicas, com esta fase de desenvolvimento do cérebro. No fundo, esta zona pré-frontal, a última a ficar desenvolvida, atinge o seu pleno, e isso também tem que ver com o fim, por exemplo, da impulsividade nas adolescentes, em que não há consequência das ações, não há esta ideia do risco. Quando dizemos que há uma certa idade para se poder responsabilizar as pessoas, de facto, há aqui subjacente uma razão biológica. A partir dos 40 anos, já vemos algumas alterações subtis. Alterações na estrutura cerebral, da substância cinzenta, da substância branca, alterações vasculares. Começam a acontecer alterações microestruturais, mas não se vê grande perda de neurónios. Além dos neurónios, temos células do sistema imunitário. Se olharmos para os cérebros ao longo da vida, temos um perfil inflamatório, temos mais reatividade destas células imunitárias do cérebro, e obviamente que isso tem um impacto na função cognitiva e motora. A partir de uma certa idade, todos sentimos este declínio, mas se calhar é só o envelhecimento normal. Isto é muito diferente da neurodegeneração. Há um envelhecimento que é saudável. É esse que queremos que seja preservado a maior extensão de tempo possível. Depois, há a neurodegeneração e não sabemos ainda muito bem porque é que algumas pessoas têm um declínio muito rápido e passam para a neurodegeneração e outras não.
Qual a importância do sono no funcionamento do cérebro? As sestas podem ser reparadoras?
O sono é crucial para esta regeneração celular dos neurónios. E, se pensarmos bem, do ponto de vista biológico, faz algum sentido. Temos um órgão que está sempre em funcionamento. Outro mito é que só usamos 10% do cérebro. Não é verdade. A ressonância magnética funcional mostra que só olhar para uma árvore ativa imensas zonas cerebrais. Quanto às sestas, podem ser reparadoras, mas, muitas vezes, não são aconselhadas. Dormir mais de 20 minutos pode interferir com o sono noturno. Por exemplo, uma pessoa que já tenha problemas de sono fragmentado não deve dormir a sesta. Dormir meia hora e acordar, mesmo que, no total, durma seis horas, é muito diferente de dormir seis horas seguidas. O ideal é a pessoa tentar, durante a noite, ter um período de sono de seis a sete horas seguidas, porque vai-lhe permitir entrar mais tempo no sono profundo nas fases do sono que, de facto, são precisas para a regeneração.
Quem é Luísa Lopes?
Neurocientista e professora convidada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Lidera um grupo de investigação, no Instituto de Medicina Molecular (iMM), que estuda a Neurobiologia do Envelhecimento.
Prevenção e tratamento de demências

É possível evitar? Quais são os fatores de risco?
Podemos retardar. Sabemos claramente, com estudos de vários países, de que forma é que podemos contribuir para desacelerar esta curva, mesmo que a pessoa tenha uma influência genética de maior risco. Os fatores de risco são a obesidade, as doenças cardiovasculares, a diabetes, o sedentarismo e o isolamento social, que é uma das mais recentes. Este ano, as recomendações de fatores de risco incluíram a perda auditiva. A perda auditiva sem acompanhamento ou sem tratamento está associada a um risco maior de demência. O sono ainda não foi reconhecido, porque é difícil de estudar. Mas tudo indica que a apneia do sono, insónias, patologias de sono que não são reconhecidas e tratadas podem também ser um fator de risco para demências.
A alteração de comportamentos tem um impacto muito grande e é significativo. Algumas medidas já estão a surtir efeito. Podemos mesmo alterar o percurso deste declínio, e há países que têm feito isso muito bem. Os nórdicos, por exemplo, têm programas para maiores de 65 anos. Têm programas, por exemplo, de alimentação equilibrada e de exercício físico em grupo – as pessoas fazem exercício físico e, ao mesmo tempo, convivem, não estão isoladas. Porque outro fator de risco é a depressão, muito ligada ao isolamento social.
As alterações de memória são uma das principais manifestações, em particular, da doença de Alzheimer. Há outras?
Quando olhamos para os cérebros, há o que chamamos o grau de distribuição da doença. Começa numa zona, o globo raquidiano, e vai alastrando. Quando chega à zona do hipocampo, que é a da memória, é que normalmente as pessoas se apercebem. Entre as várias zonas afetadas, há uma típica do envelhecimento, e não acontece só na doença de Alzheimer, que é a chamada hipertrofia do córtex frontal, a zona da interação social, da moral e da tomada de decisões. Por isso, as pessoas ficam com menos filtros. Aquela hipersexualização de que, por vezes, se fala – as pessoas contam piadas mais brejeiras por exemplo – deve-se a essa perda no cortéx frontal. Com a idade, é natural que a socialização aumente ou diminua. A censura social é menor, a pessoa está mais à vontade, perde o filtro... por vezes, parece que não se reconhece a pessoa, que tinha tanto pudor, era tão envergonhada e perde um bocadinho os filtros. Tudo isso é natural e não tem necessariamente que ver com demência.
As demências, como a doença de Alzheimer, podem ser hereditárias?
Na maioria dos casos, não. Os casos hereditários são menos de 5 por cento. Há mutações específicas que estão ligadas a um aumento de risco. Mas esses casos familiares surgem mais cedo, em pessoas mais novas. Os outros são chamados esporádicos. Não se sabe porque acontecem.
E em que ponto estão os tratamentos para as doenças neurodegenerativas?
A informação que temos é que evitar estes fatores de risco é mais eficiente do que agir mais tarde. O que podemos fazer é adotar estilos de vida saudáveis o mais cedo possível. Não sabemos o quão cedo. O que sabemos é que 20 ou 30 anos antes de surgirem os primeiros sintomas já há alterações. Por exemplo, numa pessoa que tem doença de Alzheimer, o cérebro tem deposição de proteínas tóxicas muito tempo antes. Daí haver alterações de sono, de linguagem, de ansiedade, de personalidade, etc. Em termos de terapêuticas, estão longe de ser uma resposta satisfatória. Para a doença de Alzheimer, por exemplo, há dois ou três fármacos que ajudam a melhorar os sintomas, o que permite a estabilização do doente a vários níveis. Mas ainda não temos cura, nem fármacos que retardem a evolução da doença.
A cafeína é apontada como fator protetor da demência. Sabe-se porquê? Quantos cafés beber para ter benefício?
Sim. Temos estudado muito a cafeína e sabemos que tem um papel normalizador da transmissão cinética, portanto, do funcionamento neuronal. E isto é independente do seu efeito alerta. Quando tomamos café, ficamos mais alerta, e aumenta a concentração. Tem outra vantagem fantástica: a maior parte das pessoas usa a mesma dose ao longo da vida, sem necessidade de aumentar para manter os efeitos. Em termos agudos [no imediato], a cafeína melhora a velocidade de processamento cognitivo e aumenta o foco, a concentração e a ação. Começamos, agora, a perceber o que acontece em termos crónicos [a longo prazo], na prevenção da demência. Ao longo da vida, a cafeína tem um efeito anti-inflamatório no cérebro, ainda não percebemos porquê. Por outro lado, a cafeína ou análogos da cafeína parecem normalizar a entrada de cálcio nos neurónios. Estes, para funcionar ou para disparar, precisam de cálcio e, ao longo da vida, à medida que vamos envelhecendo, a capacidade de controlar a entrada de cálcio perde-se um bocadinho. A cafeína restabelece, ou seja, ajuda a controlar estes efeitos do envelhecimento. E, com isto, preserva a integridade e a saúde das sinapses – zonas de comunicação entre neurónios – e melhora a função cognitiva. Há vários estudos epidemiológicos que mostram claramente que o consumo de cafeína está associado a um menor risco de doença de Alzheimer.
Este efeito é mais forte nas mulheres e basta ter dois, três cafés por dia. Não sabemos se tomar mais é prejudicial para esse efeito, porque normalmente as pessoas seguem muito um padrão. Também sabemos que, a partir de um certo número de cafés, é prejudicial para o organismo. Pode causar uma síndrome chamada cafeinismo, em que a pessoa fica mesmo alterada, com mais tremor, excitabilidade e aceleração cardíaca. Mas, para quem não tiver contraindicações, nem hipersensibilidade, tomar cafeína, seja café ou outras bebidas, é benéfico.
Envelhecimento e perda de memória

Perda de memória e envelhecimento andam a par?
Diria que não. Há alguns anos faríamos mais essa comparação, que a pessoa envelhece e tem um declínio da memória. É um pouco aquela ideia do burro velho que não aprende línguas. Agora, podemos dizer que não. Porquê? Há muito mais cuidado com a saúde do corpo e do cérebro. A saúde cerebral está ligada à saúde fisiológica. Quanto melhor a pessoa se tratar e tiver um estilo de vida saudável, melhor o cérebro vai estar. Não tem de haver logo uma ligação do envelhecimento à memória. Sabemos agora distinguir entre os défices cognitivos patológicos dos que estão ligados ao envelhecimento, e que não são assim tão graves como pensávamos. Não é o envelhecimento, por si, que tem de causar uma perda de memória drástica. Uma das grandes recomendações é as pessoas, quando se reformam, manterem a atividade cognitiva, seja planear viagens, jogar cartas ou fazer palavras cruzadas... manter uma atividade dentro do que já faziam. Por exemplo, um engenheiro pode continuar a fazer os seus cálculos, uma pessoa que escreva, continuar a escrever e uma pessoa que viaja, continuar a viajar. São estímulos cognitivos que é importante manter.
Há uns anos, diríamos que o envelhecimento estava ligado à reforma e a um decaimento cognitivo. É verdade, porque também estava ligado a uma paragem intelectual. O que sabemos hoje é que não está ligado a uma capacidade pior da memória, tem mais que ver com exercitá-la. O envelhecimento já não tem de ser uma sentença de declínio cognitivo. O importante é a pessoa manter o estímulo cognitivo e a atividade social.
A plasticidade do cérebro também se aplica à memória?
Sim. Por isso, é possível aprender coisas diferentes mais tarde na vida. Temos estratégias diferentes. Enquanto, numa fase precoce do desenvolvimento, é mais rápido, porque estamos na fase da formação dos circuitos cerebrais, mais tarde, é a plasticidade, a capacidade de reorganização, que permite aprender. O ritmo e, por vezes, as estratégias são diferentes. O esforço é maior, porque o limiar que precisamos para chegar lá demora mais tempo. Mas também há, em termos cerebrais, aquilo a que chamamos experiência, que ajuda a chegar mais rápido, usando estratégias que já provaram ser eficientes. E isso também serve para aprender coisas novas.
E a tecnologia, por exemplo, o facto de não termos de decorar números de telefone, de não termos uma agenda física, pode ter impacto na memória?
Sabemos que a memória é reforçada com vários inputs, ou seja, se escrever, usar a parte motora e olhar para a palavra escrita, se a ler alto, isso ajuda a reforçar a memória. Se juntar qualquer informação sensorial, do olfato, da visão, da parte motora com a parte abstrata da memória, a memória é sempre reforçada. As agendas permitiam-nos o ver os dias, olhar e escrever, ajudavam-nos a memorizar as coisas. Gravar um número no telefone não reforça a memória para essas coisas. Mas não sabemos se não podem surgir novas estratégias de memória com isto, a partir disso. O facto, por exemplo, de termos que nos adaptar rapidamente a tecnologias e termos de ter maior flexibilidade cognitiva também nos torna ágeis. Agora, temos de aprender coisas a um ritmo muito mais rápido, e isso pode ser uma forma diferente, digamos, de aumentar a capacidade cognitiva.
Da pele ou do fígado, por exemplo, tiramos amostras e podemos fazer modelos rapidamente, sem que a pessoa tenha consequências. No cérebro não fazemos isso, porque, ao intervirmos estamos a comprometer a sua função.
Estudo do funcionamento do cérebro
Nos últimos 150 anos, os avanços da medicina permitiram tratar doenças e aumentar a esperança de vida, mas o cérebro permanece, em grande parte, desconhecido…
Há várias razões pelas quais é difícil estudar o cérebro. Da pele ou do fígado, por exemplo, tiramos amostras e podemos fazer modelos rapidamente, sem que a pessoa tenha consequências. No cérebro não fazemos isso, porque, ao intervirmos estamos a comprometer a sua função. E, como digo sempre, há muito poucas pessoas que se queiram voluntariar para nos dar o seu cérebro saudável [risos]. Portanto, é difícil criar modelos para estudar em laboratório. E é, sobretudo, difícil replicar o funcionamento do cérebro, de forma eficiente, com modelos não humanos. As terapêuticas para as doenças neurodegenerativas têm sofrido um bocadinho com essa dificuldade. Estamos a tentar melhorar. Por exemplo, estamos a experimentar diferenciar neurónios, a partir de células da pele de pessoas vivas, e perceber se têm um perfil cognitivo semelhante ao dessas pessoas. Já conseguimos ver, através da ressonância magnética, os padrões de ativação de áreas cerebrais, mas não perceber o funcionamento dos neurónios, de forma não invasiva. Conseguimos, por exemplo, ver a perda neurónios, se for muito grande, mas não alterações precoces. Há ainda uma dificuldade acrescida: por exemplo, o fígado tem uma série de células iguais, que fazem todas a mesma coisa. O cérebro tem uma estrutura que parece toda igual, mas não é. Células muito parecidas fazem parte de circuitos diferentes. E não percebemos porque é que esta célula faz parte daquele circuito e a outra não. Há muitas tentativas de melhorar a forma de olhar para o cérebro. Uma são tecnologias novas de imagem do cérebro, que ainda têm de melhorar, para que seja seguro usá-las nas pessoas. Depois, já estamos a trabalhar com modelos a que chamamos organoides, em que se tenta fazer um minicérebro em laboratório para estudar algum tipo de doenças. A limitação é que não dá para todas. E alguns dos nossos colegas já usam a chamada estimulação cerebral profunda. Há situações de doenças em que a terapêutica é pôr elétrodos no cérebro. Nessas pessoas, recolhemos o máximo de dados possível. A limitação é que estamos a tirar dados de pessoas doentes. Penso que vamos conseguir melhorar a tecnologia, criar formas de medir o cérebro, sem interferir com a sua função.
Parece-lhe possível um dia produzir neurónios externamente para implantar no cérebro?
Já se produz. Quando se percebeu a neurogénese no adulto, pensou-se que teríamos capacidade para produzir células estaminais, ou seja, por exemplo, tirar de outra zona [do corpo], diferenciar em neurónios e, depois, reimplantar. Já sabemos como diferenciar, por exemplo, células do sangue ou da pele em neurónios humanos. Há quem já tenha tentado usar isso como terapêutica. Não foi muito bem-sucedido, porque, embora funcionassem muito bem aqui [no laboratório], não conseguiam sobreviver muito tempo, in vivo, no cérebro humano. Há várias tentativas de reproduzir neurónios portadores de moléculas. Estes, mesmo que definhem, conseguem produzir, durante algum tempo, substâncias que os outros não conseguem.
Há avanços extraordinários, por exemplo, na atrofia espinal. Aquele medicamento caríssimo de que se ouviu falar [dado às gémeas, no Hospital de Santa Maria] é uma terapia génica no cérebro. A causa da doença é a deficiência de uma proteína ou, por exemplo, o aumento de uma proteína defeituosa. A terapia génica consiste em dar instruções àquela zona para produzir proteína saudável. Isto já se faz, ainda que, mais uma vez, com uma capacidade inferior à que estávamos à espera. Isto mostra-nos que, de facto, o funcionamento cerebral, como um todo, é muito complexo. O estudo do cérebro é dos que têm mais financiamento ao nível mundial, para tentar perceber, não só como acontece o envelhecimento, mas, sobretudo, as doenças neurodegenerativas, que são uma angústia para muita gente e têm que ver com termos mais anos de vida.
Falava das “blue zones”. O que falta a Portugal para se tornar numa delas?
O grande problema em Portugal é termos um índice de diabetes gigante e um envelhecimento muito pouco saudável. Precisamos de mudar os nossos hábitos, para diminuir os fatores de risco da população. E, em termos de Saúde Pública, temos de tentar rastrear este tipo de doenças, a hipertensão, o colesterol, as doenças cardiovasculares e, sobretudo a diabetes, que, no nosso país, é uma epidemia silenciosa grave. Já se faz, mas é preciso monitorizar mais.
|
O conteúdo deste artigo pode ser reproduzido para fins não-comerciais com o consentimento expresso da DECO PROTeste, com indicação da fonte e ligação para esta página. Ver Termos e Condições. |