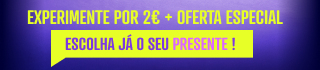Mónica Ferro: “Nas crises, as mulheres são as que sofrem mais”
Ainda há 800 mulheres que morrem diariamente, em todo o mundo, por causas ligadas à gravidez, ao parto ou ao pós-parto. Os números são do mais recente relatório do Fundo das Nações Unidas para a População sobre desigualdades no acesso à saúde e direitos reprodutivos das mulheres.

Um mundo desequilibrado no acesso à saúde

O último estudo do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) demonstra a grande assimetria no acesso à saúde, ao nível global. Quais as razões para ainda haver tantas gravidezes indesejadas no mundo?
Na UNFPA trabalhamos uma agenda de saúde e direitos sexuais reprodutivos, sempre com o foco no empoderamento das mulheres, na autonomia, no acesso aos direitos humanos. O que números como a taxa de gravidezes não planeadas mostram é uma ausência de direitos, de acesso a serviços de saúde, de tomada de decisão. Este ano, fizemos questão de repetir os números das mulheres que não têm autonomia corporal, que não podem tomar decisões sobre se querem ou não ter sexo, se podem ou não escolher o método contracetivo e se podem ir ao médico. Há indicadores, como os da mortalidade materna e os das gravidezes não intencionais, que mostram quais são os direitos e os serviços de saúde sexual e reprodutiva, os direitos humanos de uma grande fatia da população.
E se nos reportarmos à Europa?
Não há nenhum país que tenha garantido em pleno os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas, incluindo Portugal. Somos um dos países do mundo que têm o planeamento familiar como um direito constitucional, o que significa que deve ser tendencialmente gratuito, acessível e adequado à vontade de cada um. É um direito no qual nunca podemos parar de investir. Somos, aliás, o maior comprador e o maior distribuidor do mundo de contracetivos. Se se parar, por exemplo, de distribuir preservativos, as gravidezes não intencionais vão subir, tal como as infeções sexualmente transmissíveis. É um direito que requer investimento constante. E é um sinal de alerta que temos dado a muitos países desenvolvidos.
As mães adolescentes ainda são um problema pronunciado?
Sim. Há três grandes linhas que explicam taxas de gravidez adolescente elevadas em países muito desenvolvidos. Por um lado, o acesso à informação, para se poder exercer o planeamento familiar. No caso das jovens, falamos de contraceção. Muitas delas não querem planear uma família. Querem não ficar grávidas e não contrair uma doença sexualmente transmissível. Depois, o acesso ao produto e o poder de decidir ter acesso. Não me serve nada ter a informação, se não tiver acesso ao produto. Também não me serve nada ter informação, o produto estar ali, mas não ter o poder de lhe aceder. Em Portugal, as consultas de planeamento familiar, a partir dos 16 anos, não precisam de ser na sua área de residência, para garantir privacidade aos jovens. Porque têm muito receio de, se forem ao centro de saúde onde a sua família vai, que os possam reconhecer. Isso inibe o acesso. A consulta é anónima. E os produtos são gratuitos.
E como se pode garantir o acesso à informação?
Há uma controvérsia que não é justificada: a questão da educação sexual compreensiva. É o ensino nas escolas que tem permitido, em muitos países, reduzir a violência entre jovens, o número de doenças sexualmente transmissíveis e as gravidezes indesejadas. É uma disciplina na qual se devem ensinar competências que permitem aos jovens aprender a ter um direito. É um comportamento mais inclusivo, mais tolerante e mais seguro para as suas próprias vidas. É a educação sexual compreensiva que nos permite receber os dados cientificamente baseados sobre como o nosso corpo funciona. Muitos pais não estão preparados, nem sequer têm consciência de que estão a passar essa informação aos filhos. Tem de ser uma disciplina bem articulada, integrada, ensinada com rigor e até avaliada. Em muitos sítios, estas matérias são ainda interpretadas como voluntárias ou amadoras…
E mal interpretadas por muitas famílias...
E muito mal interpretadas. A educação sexual compreensiva tem de ser adequada à idade. Para ser aceite, tem de envolver os pais, os guardiões legais, os líderes comunitários. Porque quer ensinar comportamentos inclusivos, seguros, e, portanto, não é algo extraído do contexto da realidade.
Quem é Mónica Ferro?
Diretora do Escritório de Londres do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA). Foi secretária de Estado no XII Governo constitucional. Tem formação em Relações Internacionais.
A desinformação como fator de retrocesso dos direitos

O ressurgimento de um certo discurso conservador pode dar origem a retrocessos a este nível?
Seguramente. O fenómeno da desinformação é destacado neste último relatório. Muitos movimentos populistas com narrativas anti-igualdade de género baseiam-se na desinformação. É uma tentativa deliberada de construir narrativas que ponham em causa os direitos. Há um tema que tem passado à margem de algumas conversas públicas, mas que devia ser muito importante. Este ano, temos no mundo 70 processos eleitorais. Quatro mil milhões de pessoas vão ser chamadas a votar. As questões da população vão ser centrais através das taxas de fertilidade, dos movimentos migratórios ou de questões como o empoderamento das mulheres. Se não adotarmos uma narrativa de direitos humanos, estamos a abrir a porta à desinformação e a estes movimentos populistas com soluções demasiado simples para problemas muito complexos. Um exemplo tem que ver com as taxas de fertilidade na Europa, que são, há muitos anos, baixas. Há uma solução muito fácil, que é mandar as mulheres para casa ter filhos. É o mais populista que se pode ser. Como se as mulheres pudessem ser reduzidas a um papel reprodutor. Mas, quando nos focamos demasiado nos números e queremos soluções rápidas, o problema e a solução têm sempre a forma do corpo de uma mãe. Temos pessoas a mais, impedimos as mulheres de ter filhos. Temos pessoas a menos, forçamos as mulheres a ter filhos. É um problema demasiado complexo resolvido com soluções muito simples.
Isso gera distorções?
É uma narrativa tão simplista que abre a porta a violências, a mais discriminações, e não nos permite olhar para os problemas com a profundidade que têm. Vivemos num cenário policrise, com conflitos, alterações climáticas, pobreza, fome. Estas questões de sustentabilidade demográfica geram uma grande ansiedade. Temos esta tendência humana de acreditar no negativo, na resposta simples. Todas as políticas têm de ser baseadas em bons dados, o mais desagregados possível, porque é o que nos vai dar o verdadeiro retrato da sociedade. E que nos vai evitar cair nestas armadilhas simplistas.
A desigualdade entre homens e mulheres começa no laboratório.
Sim. A saúde sexual e reprodutiva tem sido focalizada apenas nos homens. Há medicamentos que são testados só em homens, e que não se sabe qual é o impacto nas mulheres. A investigação não é desenhada por mulheres. Começou por ser feita por homens, e, portanto, é natural que as questões das mulheres tenham aparecido mais tarde. Mas, nesta altura da nossa sociedade, não é admissível. Há menos dinheiro gasto na investigação da saúde das mulheres, e liderada por mulheres. A discriminação começa aí.
A desigualdade continua no investimento em cuidados de saúde dirigidos a mulheres, nomeadamente a obstetrícia.
Tem que ver com sustentabilidade. Portugal é um dos países que, no espaço de uma geração, conseguiram reduzir de forma brilhante a taxa de mortalidade materna, que é o melhor indicador de desenvolvimento. Não há um país que possa dizer que é desenvolvido se não tiver reduzido dramaticamente a mortalidade materna. Portugal tem uma das melhores taxas do mundo. É um dos países onde é muito seguro estar grávida e dar à luz, não obstante haver no mundo, todos os dias, 800 mulheres que morrem por causas ligadas à gravidez, ao parto e ao pós-parto, 99% em países em desenvolvimento. Estimamos que metade das mortes ocorram em contextos de crises humanitárias. Um país desenvolvido tem de ter serviços de planeamento familiar, consultas pré-natais, um método de acompanhamento da grávida durante a gravidez e o parto. A eliminação dos partos em casa salvou muitas vidas. É isto que faz reduzir a mortalidade materna. É das áreas que têm de estar sempre no topo do investimento público. Mesmo quando a taxa está ótima, qualquer desinvestimento vai fazê-la retroceder. Em 30 anos de aplicação do programa de ação, temos muitos sucessos. A mortalidade materna decresceu mais de 34 por cento. Há mais mulheres com acesso a serviços de contraceção. A gravidez adolescente caiu mais de um terço. Há menos meninas em risco de mutilação genital feminina. Há muitos sinais de progresso. Mas depois há sinais que nos preocupam muito. Por exemplo, desde 2016 que a mortalidade materna não decai. Foi decaindo, e em 2016 estagnou.
O que leva a que o progresso tenha estagnado?
Guerras, conflitos, crises ambientais. Sabemos que tem um impacto no desenvolvimento. E as crises têm sempre o rosto de uma mulher. Sempre. São sempre elas as mais impactadas.
Minorias sujeitas a mais discriminação
Que dificuldades é que as mulheres, as minorias, tendo em conta a orientação sexual, a etnia, ou outros, experimentam no acesso à saúde?
Fomos tentar perceber, precisamente, nas gravidezes não intencionais, no acesso à saúde sexual e reprodutiva, porque é que há bolsas, grupos populacionais, onde o progresso estagnou, e alguns até ficaram mais para trás. Concluímos que o progresso conseguido foi nas pessoas que já estavam mais ao alcance. Os mais discriminados, as pessoas portadoras de deficiência, as pessoas pertencentes à comunidade LGBTQI+, os transgéneros, as comunidades indígenas, esses ficaram ainda mais para trás, porque não fomos capazes de desmantelar o racismo, o sexismo, as homofobias, a discriminação com base no género, a pobreza. Isso empurrou esses grupos populacionais ainda mais para trás. É muito interessante ver que as grandes bolsas de desigualdade estão dentro dos próprios países, porque é a pertença a essas identidades que leva a que as pessoas tenham menos acesso.
Têm menos acesso, não vão aos serviços, porque se sentem discriminadas?
Porque têm múltiplas formas de discriminação que se sobrepõem. Sentem que cada uma das suas identidades constitui um obstáculo. E porquê? Porque, muitas vezes, os sistemas de saúde não são desenhados para servir os interesses e as necessidades dessas comunidades. Um plano desenhado no global não reflete forçosamente as necessidades desses grupos. Os programas de saúde ainda estão muito assentes numa ideia geral, estão totalmente ainda eivados de discriminações e até de erros curriculares. Descobrimos erros no que diz respeito à velocidade de coagulação do sangue das mulheres afrodescendentes ou o patamar de tolerância de dor. Havia erros que nunca tinham sido detetados. Porque, mais uma vez, se as mulheres não estiverem nos grupos de teste...
Como é a realidade da comunidade LGBT em Portugal ao nível do acesso à saúde?
Diria que se aplica o que nós vimos por todo lado, não especificamente a Portugal. A discriminação tem que ver com as identidades de género, as características sexuais, com a idade... É a questão, por exemplo, de impedir as mulheres solteiras de ter acesso a determinados serviços, como a contraceção. Ninguém gosta de ser julgado quando vai aceder a um serviço de saúde. Queremos que as coisas sejam mais baseadas em direitos.
E ainda há muita resistência à decisão de abortar, mesmo em hospitais em países onde a legislação o permite?
Há cada vez mais países com boas práticas de aborto seguro e que o garantem na lei. Mas também sabemos que há uma série de países em que a oposição à prática do aborto seguro tem sido através da objeção da consciência. Há países onde se fala numa lotaria de endereços: se alguém mora num determinado distrito, terá mais acesso ao serviço, porque os médicos naquela zona julgam menos, criam menos obstáculos.
A dificuldade de acesso das mulheres à saúde traduz-se em termos económicos?
Quando estava no Parlamento, era difícil explicar o que é a desigualdade salarial, porque as pessoas diziam que era proibida pela lei. Pois é. Mas a verdade é que as mulheres faltam mais do que os homens para tomar conta das crianças, das pessoas idosas, das pessoas doentes. O salário não é composto só pela remuneração do trabalho, tem uma série de outros complementos que são postos em causa pelas faltas ao trabalho, pela menor produtividade. Ao longo de uma vida, isso significa que as mulheres contribuem menos para a Segurança Social, mesmo desempenhando o mesmo emprego, o que significa que, quando são mais velhas, a pensão é mais baixa. Há aqui uma discriminação ao longo da vida, que vai resultar num aumento de pobreza mesmo na altura da reforma.
Além das assimetrias dentro de cada país, há países em que o estudo diz que 95% das mulheres afirmam uma quase absoluta falta de acesso a cuidados de saúde. Era o caso do Peru, por exemplo.
É muito interessante perceber que os números são muito mais expressivos quando perguntamos às pessoas se sentem que podem exercer o direito ou não. Ou melhor, muitas vezes, o direito está disponível, mas a pessoa sente que não pode exercê-lo. Os direitos têm de ter sempre três pernas: a questão de ter o poder de exercer o direito, ter informação de que o direito existe e como é que pode ser exercido, depois ter acesso aos serviços.
E destacam, também, as dificuldades geográficas de aceder aos serviços. Há uma grande diferença entre o litoral e o interior?
O rural e o urbano. Temos tentado chamar a atenção para a situação das mulheres em contexto rural. Por exemplo, há países onde uma mulher não pode ter um parto seguro, porque tem de vir à capital ter o bebé. Então, e se for num país onde as estradas sejam más? Temos beneficiado também muito com a tecnologia. A geolocalização, os GPS nos telefones têm-nos permitido, por exemplo, localizar mulheres que precisem de assistência, ou a distribuição de contracetivos por drones. Além da tecnologia, em muitos países da América Latina temos feito uma espécie de programas sincréticos, ou seja, vamos buscar as práticas tradicionais de parto e misturamo-las com as boas práticas da medicina.
Um só país, várias desigualdades

O estudo destaca desigualdades dentro dos próprios países. Por exemplo, um país como a Albânia, onde 91% das mulheres da etnia Roma têm dificuldades de acesso e só 5% das albanesas sem ser dessa etnia sentem as mesmas dificuldades. Pode-se esperar clivagens destas cada vez maiores, mesmo nos países ocidentais?
Estamos a mostrar que em países de perfil distinto, desde países muito desenvolvidos até países em desenvolvimento, há um fio comum, que é as mulheres, as pessoas pertencentes a determinadas etnias, a determinados grupos raciais, que já são discriminados, têm resultados muito piores em matérias de saúde sexual e reprodutiva. É preciso fazer um programa dedicado a grupos que estão identificados numa situação de maior vulnerabilidade.
Em Portugal há bolsas destas com clivagens tão grandes como na Albânia, por exemplo?
Estes dados podem ser extrapolados para todos os países. Mas a experiência é sempre a mesma. Quantas mais identidades específicas uma pessoa tem, mais formas de discriminação sobreposta ela tem. É como se cada identidade funcionasse numa barreira. Cada identidade única que estas pessoas têm é um obstáculo à plena realização dos direitos. A interseccionalidade é mais do que ter formas múltiplas de discriminação.
Quanto mais específica for a identidade, maior o obstáculo?
Sim, a não ser que os países aproveitem o grau de conhecimento que têm sobre essas comunidades para desenhar programas que atendam às suas necessidades. A DGS acabou de anunciar, em conjunto com a ministra que tem a pasta da Igualdade, a distribuição de materiais de saúde menstrual nas escolas e nos centros. É algo transformador. Mas vi imediatamente algumas reações a dizer que é desajustado, que é uma coisa que não faz sentido em Portugal. Não é verdade. A Escócia foi o primeiro país do mundo a fazê-lo, e é um país desenvolvido. A Suíça fê-lo nos aeroportos, com produtos menstruais grátis.
Apesar de tudo, o estudo reconhece que houve uma ligeira melhoria no acesso das mulheres à saúde. Passou-se de 67% das que afirmavam ter dificuldades sérias, para 61 por cento. Esta melhoria verificou-se no mundo em geral?
Sim. Também tem a ver com a linha de base de onde se começa. Há países que começam já num patamar muito bom de garantia de muitos direitos. Embora não se possa fazer esta correlação, ela existe: os países democráticos, com uma grande taxa de participação feminina na política e no mercado de trabalho, são países com melhores resultados em matérias de saúde. O direito à saúde sexual e reprodutiva não pode depender do sítio onde nascemos ou da identidade em que nascemos. Mas depende. O direito à felicidade não pode depender da latitude em que se nasce. Mas depende tantas vezes...
Teme pelo futuro?
Temos um caminho ainda muito longo para andar. Cresci numa altura em que os direitos estavam a chegar. E isso dava um ânimo especial para a luta. Eu digo sempre que a luta é a alegria, como a canção. Há uma alegria na conquista de direitos. Mas agora estas jovens estão a defender direitos. E isso é diferente. Porque elas agora estão só a garantir que a linha não recue, enquanto nós não. Para nós, era cada vez um bocadinho mais. E elas estão a lutar para que os direitos não recuem. E não há tanta alegria nisso.
Quando nos focamos demasiado nos números e queremos soluções rápidas, o problema e a solução têm sempre a forma do corpo de uma mãe. Temos pessoas a mais, impedimos as mulheres de ter filhos. Temos pessoas a menos, forçamos as mulheres a ter filhos.
|
O conteúdo deste artigo pode ser reproduzido para fins não-comerciais com o consentimento expresso da DECO PROTeste, com indicação da fonte e ligação para esta página. Ver Termos e Condições. |