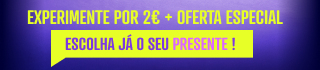Susana Peralta: “Há muitas razões para sermos otimistas”
Incerteza é a palavra de ordem da economia nacional. Apesar da recuperação dos últimos anos, o débil investimento público põe em causa salários e serviços. Quais as respostas para tantas perguntas? A economista Susana Peralta avança algumas hipóteses.

Austeridade económica favorece os extremos

O que podemos esperar desta nova configuração do Parlamento?
Acho que é uma fase necessariamente mais instável, porque de facto esta geometria parlamentar cria mais imprevisibilidade, porque não há uma solução evidente que decorra destes resultados. Isto já aconteceu noutros países da Europa. Também acho que a vida continua... E vai certamente haver futuro para a nossa democracia, mas é verdade que é um tempo mais desafiante.
Que reflexos pode esta incerteza ter na economia?
Tem sempre menor importância do que a incerteza que vem do resto das loucuras das tarifas de Trump – que ainda esta semana [a entrevista foi feita a 27 de maio de 2025] voltou a anunciar tarifas para depois voltar a adiá-las –, com a situação da guerra na Ucrânia, com a situação no Médio Oriente. Mas, se daqui decorrer um cenário mais ou menos estável de políticas públicas, eu não vejo muito bem como é que isso pode ter grandes impactos na economia em face de tudo aquilo que está a acontecer no mundo.
Quais são os setores onde é mais urgente intervir para pacificar a sociedade de algum modo, economicamente falando?
Há um artigo que mostra, em toda a geografia europeia, como os episódios da austeridade orçamental levaram ao aumento dos votos nos extremos, à esquerda e à direita. De facto, sabemos que o investimento público foi o parente pobre da governação em Portugal desde 2012. O nosso capital público tem vindo a diminuir. O que isso quer dizer? Quando vamos a tribunais, e está a chover lá dentro, ou a escolas, e há um pavilhão gimnodesportivo que não está em funcionamento, o investimento não foi o suficiente para repor a natural depreciação do stock de capital do Estado. E, de facto, isso configura um conjunto de serviços públicos que funcionam menos bem do que deviam, para além de todos os constrangimentos de recursos humanos na educação e na saúde e até nos próprios tribunais, enfim... A verdade é que, quando temos carros da polícia que estão com problemas nos travões, e temos tribunais onde chove lá dentro e temos edifícios vetustos, hospitais, que não promovem, por assim dizer, um funcionamento eficiente e célere dos serviços, isso configura uma diminuição da qualidade dos serviços públicos. E temos um atraso infraestrutural gigantesco. Esse descontentamento depois leva a esse tipo de comportamento eleitoral.
Como estão a ser investidos os fundos do PRR? Será uma oportunidade perdida, mais uma vez?
Mesmo que fossem executados na perfeição, nunca teriam capacidade para ter um impacto tão grande no nosso país. São sempre planos feitos um pouco a trouxe-mouxe, era preciso que tivéssemos um plano de investimento público que fosse sendo realizado e que tivéssemos uma visão de médio e longo prazo para ele. E, depois, quando o PRR chegasse, de algum modo se encaixasse num plano que existisse. De facto, não somos um país com uma grande capacidade de planeamento de médio e longo prazo nas políticas públicas. Não gosto de chamar isso uma oportunidade perdida, porque não é como se alguma vez tivesse sido uma oportunidade fora de série. Tenho uma convicção muito elevada de que há muito dinheiro malgasto. E não estou a dizer mal gasto por questões de corrupção, mas por falta de planeamento.
É possível dar resposta às reivindicações de todas as classes profissionais ao mesmo tempo, com uma economia ainda tão débil como a nossa?
Acho que não há resposta. Em primeiro lugar, a nossa economia não é assim tão débil. Teve um desempenho no período da pós-pandemia que surpreendeu toda a gente pela positiva: teve taxas de crescimento acima da média da zona euro, o salário médio real aumentou bastante, temos tido uma capacidade exportadora que é inédita, mesmo com a contração da procura externa. A verdade é que estamos muito perto dos 50% do peso das exportações no PIB. São sempre escolhas políticas, conseguimos sempre a restrição orçamental do setor público, que tem a ver com a capacidade para cobrar impostos, com aquilo que nós queremos gastar e onde, e, por outro lado, com a capacidade para contrair dívida. Não queremos e, quanto a mim, não devemos descuidar-nos do lado da dívida. Portanto, se queremos aumentar os salários ou melhorar as condições de trabalho a uma série de classes profissionais, a única maneira é, de facto, aumentar a receita fiscal, o que não tem de ser necessariamente um aumento da taxa de imposto. Porque o próprio crescimento da economia aumenta a receita fiscal.
Por onde se deve começar?
Essa escolha também é uma escolha política, que depende desde logo do próprio processo democrático. Não podemos queixar-nos da falta dos professores, da falta de atratividade da carreira docente, e continuarmos a ter aquela classe profissional descontente. É evidente que a reposição do tempo de carreira dos professores, portanto, o aumento salarial dos que estão no quadro, não se repercute diretamente nos salários daqueles que entram. Mas dá um sinal de valorização daquelas pessoas. E isso é absolutamente essencial, depois da pandemia que tivemos – dois anos com a escola aos trambolhões, não sei quantos meses de escolas fechadas. Mas [é preciso falar] também dos funcionários judiciais e certamente das forças de segurança. E há também a questão da própria adaptação às alterações climáticas: sabemos que vamos ter problemas de incêndios, problemas de água. Tudo isso exige investimento. É provável que haja um certo excesso de emergências de curto prazo nas prioridades dos governos. Mas era bom manter o radar nas questões de longo prazo.
Quem é Susana Peralta?
Doutorada em Economia pela Universidade Católica de Lovaina (Bélgica), especialista em Economia Pública e Economia Política, leciona e deu vários cursos na Nova SBE.
Portugal é dos países da OCDE com menos habitação pública

E ainda nem falámos de um dos maiores problemas, que é o da habitação. É necessária mais intervenção do Estado ou mais construção por parte do setor privado?
Nós sabemos, e é um facto, que Portugal é um dos países da OCDE com o menor stock público de habitação. É muito provável que o ideal fosse aumentá-lo. Acho que isso até é razoavelmente consensual. Mas temos sempre um problema, que é a nossa capacidade de execução. Relativamente ao setor privado, ainda não sabemos muito bem. Fala-se de problemas de licenciamento, mas ninguém consegue quantificá-los, não existe qualquer fonte de dados em Portugal que permita dizer onde é que há mais constrangimentos no licenciamento, não só em zonas geográficas, em tipo de habitação, em que fase estão já licenciados, mas que não avançam de algum modo. Na verdade, isso não se consegue quantificar, e acho também extraordinário como é que o Estado ainda não tem uma maneira eficaz de medir isso. Há outros constrangimentos do lado da oferta do setor privado, que são as casas vazias. E há todas as casas vazias do Estado – isso, então, não lembra a ninguém: como é que não as conseguem pôr no mercado? E é também estranhíssimo haver casas vazias no setor privado, observando-se um tal aumento do preço da propriedade. Esse devia ser o maior incentivo a que as pessoas colocassem as casas no mercado. Era mesmo preciso percebermos, para depois mexermos no sítio certo da legislação, porque pode ser preciso desbloquear algum processo burocrático. Se calhar tem que ver com questões, por exemplo, de tribunais, de heranças mal decididas, ou com comportamentos estratégicos por parte dos proprietários. Isso resolve-se, de algum modo, com medidas fiscais que penalizem essa manutenção do stock de habitação vazio...
E quem devia fazer esse estudo?
Devia ser o Estado a produzir esses dados. As câmaras municipais não mantêm registos dos processos de licenciamento, ou mantêm e não os disponibilizam. Há uma falta de dados enorme, tal como no mercado do arrendamento. Alguém sabe quantos contratos de arrendamento existem com prazo superior a um ano? É um exemplo que mostra que somos incapazes de pensar num problema e desenhar políticas públicas em concordância. A crise da habitação seria mitigada se as pessoas tivessem, num raio de 150 quilómetros das grandes áreas metropolitanas, cidades de dimensão média acessíveis por comboios rápidos, como acontece noutros países.
Como se podem planear políticas com efeito a longo prazo? Parece-lhe possível haver uma espécie de pacto de regime em áreas fundamentais, ou isso não é viável?
É bom termos alguma estabilidade das políticas públicas. Na questão da habitação, por exemplo, o investimento dos privados é a médio e longo prazo, e é preciso haver alguma previsibilidade relativamente ao quadro institucional, fiscal e regulamentar. Sou mais cética em relação a pactos de regime. É perigoso, e é preciso ver onde se marca a fronteira, porque é preciso debate e alternância democrática. Em altura de eleições, as pessoas têm de sentir que o seu voto serve para mudar alguma coisa. Não sei se há condições políticas. Temos o Conselho das Finanças Públicas, um instituto independente que olha para a sustentabilidade das finanças públicas, que tem tido um papel importante. Talvez pudesse haver algo assim, um conselho independente que olhasse para o médio e o longo prazo. Em França, têm um conjunto de especialistas que vai colocando em cima da mesa questões relacionadas com o tecido económico, o investimento público, limitações importantes às políticas públicas… Reúne um conjunto de informação e espera-se que os partidos tenham isso em atenção. Se calhar era mais fácil ter algo desse género do que um pacto de regime.
Uma constante é também a perceção da corrupção. Como é que se pode combater a corrupção e a perceção da mesma?
É muito difícil estudar a corrupção, porque é um fenómeno que, pela sua própria natureza, está escondido. A melhor maneira de termos um indicador do que está a acontecer é através da perceção. O lugar em que Portugal aparece no ranking dá alguma indicação do efetivo estado da corrupção. Esta tem um braço muito importante, o preventivo. E, depois, há o punitivo. Como é que se combate a corrupção? Através de boas regras para evitar situações permeáveis ao comportamento corrupto. São boas regras de governança, de funcionamento das instituições públicas, e, obviamente, punindo o comportamento corrupto, com recuperação de ativos – os proveitos económicos obtidos não devem ficar no bolso do indivíduo, mas distribuídos por quem foi prejudicado. Em Portugal, temos o processo da “Operação Marquês” há anos, que não anda. Sabemos que não há recuperação de ativos – por exemplo, uma parte substancial das pessoas prejudicadas pelo universo BES ainda não teve os seus ativos de volta. No braço preventivo, sabemos que há várias instituições que se dedicam a analisar o quadro normativo dos vários países para saber se está a ser bem aplicado. Temos as recomendações, por exemplo, do Group of States against Corruption [Grupo de Estados contra a Corrupção], do Conselho da Europa, do relatório sobre o Estado de Direito da União Europeia e das Nações Unidas, relativas à corrupção. Mas, em Portugal, somos muito lentos a implementar esse tipo de recomendações.
E há vontade para as implementar?
Não, acho que não. Quando temos um primeiro-ministro que achou por bem manter uma atividade privada… Uma das coisas mais importantes neste braço da corrupção é a existência de mecanismos que evitem a probabilidade de a pessoa se encontrar numa situação de conflito de interesses. Parece-me não só que isso não aconteceu neste caso como também que o próprio eleitorado não o penalizou o suficiente. Quando se diz que Portugal é um país corrupto, não é só no índice da perceção. É também neste tipo de regras, que, apesar das recomendações internacionais, não são implementadas.
Turismo, pilar (arriscado) do crescimento
O crescimento da economia nacional é consistente e estrutural ou resulta de uma conjuntura favorável, nomeadamente, do turismo?
Quando olhamos para a composição das exportações, verificamos que os setores com maior intensidade tecnológica têm tido taxas de crescimento “simpáticas”. E, quando observamos o aumento do salário médio real, isso não pode dever-se apenas ao turismo, porque uma das características deste é gerar trabalho de baixos salários. Mas é verdade que grande parte do dinamismo da economia portuguesa, até na fase pós-recuperação das dívidas soberanas, está muito relacionada com o peso do turismo. É uma entrada de divisas, equilibra as nossas relações com o exterior, gera atividade económica e dinamiza muito os serviços de proximidade. Contudo, é um setor em que há uma prevalência de pessoas com o salário mínimo superior à nacional. E tem alguma sazonalidade, embora isso possa ser mitigado com boas políticas públicas. Dito isto, o turismo não pode ser o principal motor da nossa economia, até porque é muito arriscado. Durante a pandemia, tivemos uma das maiores contrações do PIB da zona euro, precisamente devido ao peso do turismo. Os setores económicos que exportam serviços, como o turismo, necessitam que as pessoas se desloquem. A resposta pode ser muito drástica em situações como a pandemia, o risco climático ou riscos geopolíticos. É bom diversificarmos, mas não me parece razoável admitir que o turismo não vai continuar a desempenhar um papel preponderante na nossa economia.
Com uma situação económica tão volátil, o que se pode esperar para o futuro? É otimista?
Há muitas razões para sermos otimistas. Houve um aumento do capital humano, há um efeito geracional que leva a que, nas empresas, as pessoas que estão a chegar ao topo sejam mais formadas. Estamos, atualmente, com uma economia com mais capacidade de inovar, mais exportadora. Há aqui muitos fatores positivos, mas também temos grandes desafios, como a falta de coesão social e bolsas de grande fragilidade socioeconómica. Temos o desafio de sermos uma pequena economia aberta, aqui, no fim da Europa, e isso expõe-nos ao risco económico internacional. A situação é instável, tendo em conta o contexto internacional e, agora, o contexto político nacional mais arriscado. Mas acredito que, com o investimento que fez em capital humano, se se conseguir ter políticas inclusivas, este país tem pernas para andar.
Quer deixar uma recomendação aos consumidores?
É importante as pessoas manterem uma perspetiva prudente relativamente ao seu orçamento e às suas decisões na gestão do dia-a-dia, sem entrarem em grandes pessimismos.
“Como é que se combate a corrupção? Através de boas regras para evitar situações permeáveis ao comportamento corrupto. São boas regras de governança, de funcionamento das instituições públicas, e, obviamente, punindo o comportamento corrupto, com recuperação de ativos.”
|
O conteúdo deste artigo pode ser reproduzido para fins não-comerciais com o consentimento expresso da DECO PROTeste, com indicação da fonte e ligação para esta página. Ver Termos e Condições. |