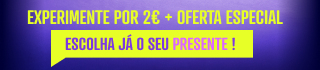Joaquim Fialho: “Vivemos num capitalismo digital”
Mais de metade dos portugueses usa mais de um telemóvel. Estamos perante uma nova dependência, a dos ecrãs e da navegação online? O estudo "Scroll. Logo Existo! – Comportamentos Aditivos no Uso dos Ecrãs" analisa este fenómeno. Não há razão para alarme, mas há que promover a literacia digital, diz Joaquim Fialho.

Grupos mais expostos à dependência dos ecrãs

No vosso estudo, houve uma preocupação especial com pessoas maiores de 65 anos. Porquê?
Sim. O objetivo era obter um primeiro retrato do território nacional e chegar a dois públicos que nos causavam alguma preocupação: os jovens em idade escolar e, sobretudo, os idosos. Porque não são nativos digitais, estes não passaram pelo processo de aquisição de competências – sendo [o conceito] de aquisição de competências no domínio digital bastante discutível –, não fizeram socialização digital, e isso torna-os mais vulneráveis ao uso dos ecrãs. Os resultados dão-nos algumas indicações, não são suficientemente robustos para podermos fazer grandes extrapolações.
Foi nesses públicos que encontraram mais fragilidades? Se pudéssemos definir grupos de risco, quais seriam?
Estudantes e população inativa, onde temos os idosos e as pessoas em situação de desemprego. Há duas variáveis que condicionam a vulnerabilidade, a idade e a escolaridade. Quanto menor é a escolaridade e menor ou mais elevada é a idade, cruzado com a situação de inatividade, mais vulneráveis são as pessoas à dependência de ecrãs. Quando falamos na dependência, é importante olharmos também para outras. O álcool e o haxixe, por exemplo, consomem-se em contextos restritos, e quando há; o consumo de ecrãs faz-se durante 24 horas, em qualquer lugar. Em Portugal, a taxa de utilização de smartphones é superior a 150 por cento. O próprio smartphone traz um conjunto de aplicações que o tornam quase irresistível. Estas têm uma matriz idêntica, que é a simplicidade de utilização, e uma dinâmica construída em prol da psicologia das cores. Por exemplo, o azul e o verde colocam-nos na esperança, no próprio prazer, o vermelho é de alerta... o objetivo é potenciar o estar ligado. As redes sociais são uma fonte de prazer, porque há sempre qualquer coisa a acontecer, e isso faz com que se desenvolva um determinado voyeurismo digital.
Há diferenças nos comportamentos face ao ecrã, entre os jovens e os adultos?
Os jovens nasceram num contexto de consumo de conteúdo, tal como são os idosos, mas também desenvolveram o seu processo de socialização numa lógica de produção de conteúdo. Os idosos tiveram de fazer toda a aprendizagem num período posterior da sua vida. A diferença está sobretudo na literacia digital [ao nível da utilização da tecnologia], que os jovens têm e os idosos, não. Mas, é importante não criar alarme social, porque não temos um problema generalizado de dependência de ecrãs. Há uma transformação das nossas relações de sociabilidade, que têm um ecrã como agente de mediação.
O uso descontrolado da internet é um conceito que não sabemos ainda classificar, e isto tem que ver com os tempos de utilização do ecrã. O uso que fazemos para fins profissionais nunca poderá ser visto como uso descontrolado dos ecrãs. O uso descontrolado da tecnologia, que está relacionado com a dificuldade em desligar, esse sim, merece alguma preocupação. Todos os jovens que entrevistámos manifestaram essa dificuldade. Quando estão online, os níveis de dopamina aumentam, o que quer dizer que estar online promove satisfação, dá prazer, e isso leva à dificuldade em desligar. Para os idosos, não temos esta informação, porque não fizemos entrevistas. Temos apenas dados quantitativos. Parece-nos que sim, que os idosos e as pessoas que estão sem ocupação são mais vulneráveis a dar o passo para a utilização patológica, mas é preciso a validação científica.
Quais as consequências?
O transtorno de dependência da internet pode provocar a disforia [mal-estar, ansiedade e depressão]. Como acontece? De um momento para o outro, entro na internet e vejo um acontecimento que altera o meu estado de humor. Pode haver outros problemas, como, por exemplo, a síndrome do toque fantasma [ter a sensação de que o telefone está a vibrar, quando não está], a nomofobia [horror patológico da solidão]. Uma novidade para nós foi o efeito de hipocondria digital. A pessoa está com um sintoma, vai ao Google fazer uma pergunta e fica com um diagnóstico para diversas doenças. Também nos surpreendeu o efeito TikTok, que se verificou nestas eleições. Os jovens têm no TikTok a principal fonte de informação, e o que circula no TikTok é alterado. O que é que isto significa? Estamos a tornar gerações muito vulneráveis aos ecossistemas digitais. É importante darmos o passo para as competências digitais, a literacia de utilização dos ecossistemas digitais.
Quem é Joaquim Fialho?
Analista de redes sociais e investigador integrado do CLISSIS – Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social da Universidade Lusíada.
Riscos de exposição prolongada aos ecrãs
Nesse aspeto, os jovens têm vantagem.
Há o mito de que os jovens, pelo facto de terem nascido num contexto digital, têm muitas competências digitais. Isso é um erro. Ter muitas competências para produzir vídeos ou imagem não significa, e isso está demonstrado, que tenham competências, por exemplo, na segurança online ou na gestão de ataques informáticos. Não têm. De qualquer forma, se compararmos os nativos digitais e os não-nativos digitais que estão numa situação de inatividade, sobretudo, os idosos, aqui sim, podemos dizer que os jovens estão mais protegidos. Os idosos são mais permeáveis, por exemplo, a ataques ou a burlas, como o “Olá pai, olá mãe”, no WhatsApp [burlões faziam-se passar por filhos em dificuldades e pediam dinheiro]... a resposta a um e-mail para ceder acesso à conta bancária, fornecer dados pessoais ou a própria identidade, que não sabemos como vai ser utilizada. É importante que façamos este trabalho de análise e reflexão sobre competências necessárias para navegar de forma segura nestes ecossistemas digitais. Da parte do poder político há quase uma marginalização deste problema, que é central.
No seu entender, o que tem de ser feito para reduzir esse problema?
Gostava de ter uma solução que pudesse ser generalizada, mas não há. Temos de olhar para a escola como principal agente de socialização, temos de capacitar os nossos professores para os ecossistemas digitais. Há competências que temos de desenvolver. Tal como temos competências para o consumo moderado de bebidas alcoólicas, temos de as desenvolver para o uso moderado de redes sociais, por exemplo, ou sobre a utilização e a criação de conteúdos digitais. É cada vez é mais difícil de identificar os limites entre espaço público e o privado. É importante alertar a população, não de forma alarmista, para o que está a acontecer, toda esta transformação digital. E que possamos discutir os riscos, e também o lado positivo.
O padrão de uso das redes sociais varia com a idade.
Verificamos que o TikTok é mais utilizado por jovens com menos de 24 anos, e o Facebook, pelos mais velhos. Esta geração de jovens já não é produtora de conteúdo ao nível da fotografia, é ao nível do vídeo. A interação por vídeo é mais sedutora. E sabemos que, numa rede social, um texto que demore mais de um minuto a ser lido não é lido. Quando começámos a estudar as redes sociais, a fotografia era o grande epicentro. Hoje, continua a ser relevante, mas, sobretudo, para classes etárias mais avançadas. No TikTok, há os influencers a produzir conteúdos para estes jovens, não só da política, mas dos produtos de cosmética... de tudo que possamos imaginar. Isto é preocupante. Os ecossistemas digitais são olhados de forma quase inocente, quando se estão a transformar em fontes que podem influenciar até as democracias. Um partido político que teve um grande crescimento tem equipas, bots, para produzir notícias falsas. O comum dos utilizadores não tem filtros para as distinguir. E sabemos que é duas vezes mais provável que uma notícia falsa seja difundida numa rede social do que uma notícia verdadeira.
Há diferença entre abuso e dependência, no contexto do uso de ecrãs?
O uso tem que ver com momentos. Hoje, não tenho nada para fazer e estou a relaxar e a fazer scroll, isso não faz de mim uma pessoa com dificuldade em desligar. A dependência é quando já temos dificuldades em desligar. Uma pergunta que poderíamos ter feito: quantos de nós fazem uma caminhada de quatro quilómetros? Seria muito pouco. Mas quantos fazem quatro quilómetros de scroll? Aí teríamos muitos. É um dado interessante, não do nosso estudo, mas são dados públicos.
"Detox” digital

No estudo, falam em detox digital. Em que poderá consistir?
O projeto foi desenvolvido em parceria com o ICAD [Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependência], e após os resultados fizemos um focus group com técnicos e especialistas da área para debater propostas de ação. Criámos um plano com quatro pilares. Um seria a intervenção em contexto escolar, o outro, a intervenção na comunidade, o terceiro, a intervenção em contexto laboral, e, por fim, a intervenção transversal. Numa destas, tínhamos o detox digital. Haveria uma espécie de clínicas de desintoxicação, onde a pessoa vai passar um fim de semana em atividades ao ar livre, completamente desligada dos ecossistemas digitais, para poder fazer quase que uma reaprendizagem das relações de sociabilidade presenciais.
Há abertura do ICAD para trabalhar a área?
Há uma preocupação em compreender melhor o fenómeno. Estes contributos [do estudo], já os estão a divulgar junto das suas equipas. Também nos convidaram para vários eventos, para apresentarmos os resultados e debatermos a temática. O estudo e o plano de ação têm as propostas, alguém as vai agarrar, não sei.
Diz que há uma espécie de normalização da embriaguez digital. O que significa?
É o que vivemos no nosso dia. Enquanto a embriaguez do álcool é algo em algumas pessoas, esta embriaguez digital é algo que está generalizado. Por isso, é mais preocupante. É vista como uma normalização. Quando se compra um smartphone, já ninguém pergunta se faz chamadas, pergunta-se pelas aplicações, a capacidade para fotografias, a velocidade do processador. Porque o importante não é fazer chamadas, mas características que permitam alimentar esta embriaguez digital. Por exemplo, uma aluna que entrevistámos, num outro estudo dizia-nos: “Entro no metro e sinto-me completamente descontextualizada, porque estão todos a olhar para o smartphone e eu não utilizo." Nas escolas, quando faço palestras, costumo mostrar uma fotografia com um burro e a cenoura. Todos se riem. A seguir, coloco-lhes a imagem de um jovem com um smartphone e, aí, caímos todo na realidade. A comparação é a mesma.
Que mensagem gostaria de deixar ao consumidor?
Que utilizem os ecossistemas digitais, a internet, os ecrãs, mas não deixem que sejam os ecrãs e a internet a utilizá-los a eles. O problema é que já nos estão a utilizar, sobretudo as redes sociais. É isso que deve gerar preocupação. Os nossos dados são o nosso ativo mais valioso. Vivemos no contexto do capitalismo digital, do capitalismo dos dados, e é importante que as pessoas saibam que os seus dados têm um valor incalculável. Digo sempre, sabemos o preço do barril de petróleo, mas não sabemos o preço dos nossos dados. Os nossos dados são a maior riqueza, e toda a informação que publicamos num ecossistema digital deixa de ser nossa, e é utilizada pelas plataformas para nos colocarem à frente o nos querem vender. Existe todo um processo de dominação, não só para efeitos de marketing, de publicidade, e até para fins que nós não sabemos. Estamos a viver num contexto em que os dados podem ser adulterados com segundas intenções, de forma muito fácil, por plataformas de inteligência artificial. E não acredito que a população em geral esteja consciente, e com informação suficiente para perceber o impacto da cedência dos seus dados.
Vivemos no contexto do capitalismo digital, do capitalismo dos dados, e é importante que as pessoas saibam que os seus dados têm um valor incalculável.
|
O conteúdo deste artigo pode ser reproduzido para fins não-comerciais com o consentimento expresso da DECO PROTeste, com indicação da fonte e ligação para esta página. Ver Termos e Condições. |