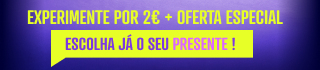Maria João Gregório: "Obesidade e dificuldades económicas estão associadas"
Mudar hábitos alimentares requer tempo e resistência. A responsável do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, Maria João Gregório, reconhece a lentidão, mas há conquistas em 11 anos. Agora, a aposta centra-se também na intervenção médica atempada.

Especializada em Nutrição Comunitária e Saúde Pública, diretora do PNPAS, programa da Direção-Geral da Saúde, docente da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e representante de Portugal para a área da nutrição na OMS, Maria João Gregório explica a estratégia para promover a alimentação saudável.
Que importância atribui ao Dia Mundial da Alimentação?
A alimentação é um dos fatores mais determinantes da vida e, em concreto, da saúde. A verdade é que o Dia Mundial da Alimentação [16 de outubro] é trabalhado pela FAO [Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura], sempre numa perspetiva abrangente. Nós [Direção-Geral da Saúde] olhamos muito para a alimentação como um dos principais determinantes da nossa saúde. E, pensando no lado oposto, um dos principais determinantes da carga da doença na população portuguesa.
Nos últimos anos, temos vindo a identificar os principais fatores de risco modificáveis que condicionam a mortalidade, em particular a mortalidade prematura, e a perda de anos de vida saudável. A alimentação aparece no conjunto de que mais condiciona a carga da doença no nosso país.
Tentamos aproveitar este dia para alertar para a importância da alimentação saudável. Esse trabalho de sensibilização pode não ser só para a população, mas também para um conjunto de stakeholders, com os quais temos de trabalhar, se quisermos efetivamente melhorar os hábitos alimentares da população.
Refere-se a quem?
Estou a referir-me aos líderes políticos, que têm um papel muito importante, para conseguirmos implementar medidas, e a outros stakeholders, com quem nos temos vindo a relacionar nos últimos anos, nomeadamente a indústria e a distribuição alimentar, porque aquilo que está à disposição da população para consumo depende muito do trabalho deste setor. Falo ainda de todas as instituições que colocam o programa no terreno, em particular, as unidades de cuidados de saúde primários, as escolas e, cada vez mais, as autarquias. Estas são muito importantes, na medida em que têm a responsabilidade de gerir as refeições escolares, para todos os níveis de ensino.
Qual a vantagem de as autarquias gerirem os refeitórios escolares?
Na minha perspetiva, pode haver uma gestão mais eficiente do processo. Também permite uma maior articulação, por exemplo, com o sistema alimentar local. As instituições públicas têm o poder de transformar o sistema alimentar, porque compram alimentos para muitas refeições. Os refeitórios escolares podem efetivamente contribuir para que o sistema alimentar se modifique e para um consumo de maior proximidade, por exemplo. Mais saudável e mais sustentável.
Mas também podemos ter riscos. Pode haver vontade de definir orientações próprias e específicas para cada local. Desde 2021 existe legislação que determina o que pode ser disponibilizado nas escolas, no que diz respeito à alimentação, não só nos refeitórios, mas também nos bufetes e nas máquinas de venda automática, se existirem – a recomendação é que não estejam disponíveis [as máquinas], porque sabemos que é difícil assegurarem uma alimentação saudável. O que as escolas devem fornecer está definido. Os municípios, embora tenham autonomia, têm de respeitar as orientações, neste caso, do Ministério da Educação, desenvolvidas em estreita articulação com o setor da saúde.
As escolas seguem as orientações?
No ano passado, fizemos uma avaliação e identificámos uma boa percentagem de cumprimento nos bufetes, mas não nas máquinas de venda automática e, em particular, de alimentos que devem ser disponibilizados obrigatoriamente. A maior dificuldade está aqui, porque, se essas opções não tiverem procura, não existe muito interesse económico em colocá-las. Estes produtos [fruta, pão…] têm um tempo de prateleira curto e, portanto, se não forem vendidos, vão ser desperdiçados.
E o que acontece às escolas que não cumprem?
Temos tentado atuar pela via pedagógica, e as equipas de saúde escolar [dos cuidados de saúde primários] têm um papel muito importante, podendo ajudar as escolas a melhorar a oferta alimentar. Porque é um desafio: retiramos muita coisa das escolas, mas o que vamos colocar para continuar a ter uma oferta alimentar, não só saudável, mas também apelativa para as crianças?
Quais os principais erros alimentares dos portugueses?
A verdade é que tivemos o último inquérito alimentar nacional em 2015 e, desde então, muito aconteceu. A pandemia, o aumento significativo do preço dos alimentos… São contextos que têm impacto nas escolhas alimentares. Nos estudos que fomos fazendo, nomeadamente para avaliar o impacto da pandemia na alteração dos hábitos alimentares – não sabemos se foi restrita àquele período – identificámos um grupo que parece ter melhorado os seus hábitos alimentares, aumentando o consumo de fruta e de hortícolas. Isto, muito associado à confeção de refeições em casa e, eventualmente, a haver mais tempo para confecionar, um fator que também condiciona a alimentação. Num padrão distinto, houve aumento do consumo de snacks, doces e salgados, provavelmente também associado ã questões emocionais relacionadas com o período que estávamos a viver.
Os grupos com um nível socioeconómico mais baixo tendem a alterar hábitos no sentido de uma alimentação com pior qualidade. Preocupa-nos, porque sabemos que a alimentação sofre um gradiente social. Temos hábitos alimentares mais inadequados nos grupos mais vulneráveis da população. E não será diferente no caso da inflação, porque são os grupos mais vulneráveis, do ponto de vista socioeconómico, que sentem mais o impacto do aumento do preço dos alimentos.
Temos também os dados do COSI [estudo europeu que inclui crianças e adolescentes em idade escolar], e aí parece ter havido um aumento da percentagem de crianças com maior consumo de fruta e de hortícolas. Mas não podemos avaliar de que forma se adequam às recomendações da Organização Mundial da Saúde. Também podemos eventualmente pensar que algumas das medidas que fomos implementando ao longo dos últimos anos também possam ter contribuído para melhorar os hábitos alimentares.

Que balanço faz do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável?
[Onze anos depois,] o balanço é positivo. Foi possível implementar muitas das principais medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, como a regulação da publicidade alimentar dirigida a crianças, o imposto especial de consumo para as bebidas açucaradas e as medidas de incentivo à reformulação dos produtos alimentares. Mudou a abordagem de intervenção, sendo ao longo destes últimos anos mais visível a intervenção sobre os ambientes alimentares onde as pessoas vivem e fazem as escolhas alimentares. Esta intervenção tem o potencial de ser mais efetiva na mudança de comportamento.
O que está previsto ao nível da prestação de cuidados de saúde?
Quando o programa surgiu, em 2012, todas as medidas foram implementadas para modificar os ambientes alimentares. Mas a verdade é que, em paralelo, temos uma percentagem relevante da população que já vive com doença. Mais de 20% da população é obesa e mais de 10% tem diabetes. Com hipertensão arterial, 36%... Portanto, há uma grande percentagem que precisa de apoio, de tratamento e de intervenção dos serviços de saúde. Estes não têm estado muito bem preparados para dar resposta. Temos já trabalhado em algumas vertentes. Desenvolvemos um modelo de aconselhamento breve para a alimentação saudável, para ser utilizado pelos médicos de medicina geral e familiar na consulta.
É só um aconselhamento breve.
Qualquer contacto com o utente conta, quando pensamos na promoção da alimentação ou de estilos de vida saudáveis. Cada contacto é uma oportunidade para avaliarmos os hábitos alimentares e tentarmos intervir para melhorar a alimentação. É um aconselhamento num tempo curto, porque é numa consulta do médico de família. Mas são modelos de intervenção que, de acordo com a evidência, levam a resultados positivos. E que podem permitir a referenciação para outros profissionais, nomeadamente, nutricionistas, quando identificamos alguém com excesso de peso e obesidade. O médico de medicina geral e familiar pode fazer uma intervenção com vista à redução do peso. Se não houver resultados, deve haver um acompanhamento mais especializado. Para a obesidade, temos os serviços de saúde muito orientados para fases mais avançadas da doença – a cirurgia bariátrica, por exemplo –, e não para dar resposta às mais iniciais. Temos de intervir e melhorar a resposta dada às pessoas que vivem com obesidade, sem acompanhamento adequado. É preciso definir o modelo de prestação de cuidados e uniformizar procedimentos. É uma área bastante complexa. Os resultados, muitas vezes, não são aqueles que gostaríamos de ter.
E isso implica nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde?
E isso implica também reforçar os profissionais que, de facto, podem ter um papel ativo e estão capacitados para intervir nesta área. Em particular, porque a primeira abordagem terapêutica é um plano de intervenção para modificar estilos de vida. E não estamos a assegurá-la com qualidade à população.
Que outras medidas estão contempladas?
Uma medida é definir este modelo de prestação de cuidado específico para a obesidade. Outra é alargar a identificação do risco nutricional a mais níveis de cuidados. Estamos a falar mais de casos de desnutrição, prevalentes em contexto hospitalar, mas também na comunidade, em particular, nalguns grupos de risco, como os idosos. Nos últimos anos, os doentes hospitalizados por um período superior a 24 horas têm sido submetidos a um rastreio do risco nutricional. Aqueles que estiverem em risco são referenciados para o serviço de nutrição. Queremos fazer o mesmo nos cuidados de saúde primários, porque, muitas vezes, estes doentes já estavam em risco na comunidade. E também porque, muitas vezes, o tempo de internamento não é suficiente para corrigir o estado nutricional. É importante haver um acompanhamento em contexto pós-alta, ao nível dos cuidados hospitalares e dos cuidados de saúde primários. Temos, cada vez mais, de intervir em fases precoces do ciclo de vida, nomeadamente na pré-conceção, na gravidez e nos primeiros anos de vida. Para essas áreas, temos definidos, nos cuidados de saúde primários, modelos de acompanhamento e vigilância da gravidez e da saúde infantil e juvenil. Essas consultas são momentos de oportunidade para promover uma alimentação saudável. Portanto, é direcionar mais os serviços de saúde para a promoção de uma alimentação saudável e, depois, ter modelos de prestação de cuidados ajustados para pessoas com essa necessidade, tendo em conta a situação clínica.
Há fome em Portugal?
Há dificuldades económicas no acesso aos alimentos numa percentagem ainda relevante da população, o que compromete a qualidade da alimentação. Esse é o grande problema associado à carência económica. Em Portugal, existe um conjunto de medidas de proteção social, algumas específicas para o apoio alimentar, que, no geral, permitem assegurar condições de acesso aos alimentos às pessoas mais carenciadas. Porém, os dados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento de 2022 mostraram que 4,1% da população residente em Portugal vivia numa situação de insegurança alimentar moderada ou grave. O nível mais grave de insegurança corresponde a uma situação em que existe ausência total de alimentos ou fome por um dia ou dois. A insegurança grave parece estar em menos de 1% da população.
O programa nacional identifica alguns desafios...
Quando definimos medidas, uma das preocupações é não potenciar as desigualdades sociais. Muitas vezes, quando investimos na educação, quando fazemos intervenção, por exemplo, nas escolas, e convidamos os encarregados de educação, conseguimos motivar e trazer os pais das crianças que pertencem ao nível socioeconómico mais elevado, mas não os do mais baixo. Isto é uma intervenção com risco de potenciar desigualdades, porque não vou conseguir intervir naqueles que, provavelmente, mais necessitam. A questão das desigualdades surge para identificar acontecimentos e contextos externos com impacto relevante nos fatores de risco modificáveis da saúde. Por outro lado, há que ter a preocupação de chegar aos grupos que mais necessitam de intervenção. E isso implica também a capacidade de perceber qual é o impacto das medidas, em função dos diferentes grupos socioeconómicos. Por norma, as intervenções dirigidas a um ambiente alimentar têm o potencial de reduzir desigualdades, porque consigo intervir em toda a gente. Quando altero o teor de sal no pão ou de açúcar nos iogurtes, consigo chegar a toda a população, independentemente do nível socioeconómico.
As sindemias também incorporam as desigualdades sociais. Têm que ver com causas semelhantes ou comuns para problemas distintos, como a obesidade, a insegurança alimentar e as alterações climáticas. O sistema alimentar tem impacto no ambiente e na elevada prevalência de obesidade e de doenças crónicas associadas. E há cada vez mais a associação entre dificuldades no acesso aos alimentos e obesidade. No passado, poderíamos pensar que a obesidade dificilmente resultaria de dificuldades económicas, mas, hoje, há maior prevalência nos grupos mais vulneráveis, com mais insegurança alimentar e dificuldades no acesso aos alimentos. E há uma associação entre obesidade (e outros fatores de risco ligados à alimentação inadequada) e a gravidade de doenças crónicas e doenças infeciosas. Vimo-lo com a covid.
Que alimentos mais contribuem para a ingestão de sal e açúcar?
Temos os dados de 2015. Esperamos, muito em breve, ter informação mais atualizada. Em relação ao sal, por exemplo, o de adição surge como sendo o primeiro. Depois, temos dois produtos que, por serem muito consumidos, têm um grande contributo para a ingestão de sal na população portuguesa, nomeadamente, o pão e a sopa. Por isso, o pão foi um dos alimentos em cuja reformulação trabalhámos. Estes processos têm de ser graduais, para que tenham também a aceitação do consumidor. Há outras categorias que gostávamos de integrar, como a charcutaria e o queijo.
Os iogurtes e os cereais de pequeno-almoço são categorias em que queremos renovar os compromissos [já havia metas para a redução do açúcar até 2022]. São muito consumidas pelos mais jovens e das que mais contribuem para a ingestão de açúcar. Existe margem para continuar a reduzir.
Já utilizamos abordagens diferentes para incentivar a reformulação dos produtos alimentares. Nas bebidas açucaradas, introduzimos um imposto. Para promover uma reformulação mais alargada a várias categorias, utilizamos uma abordagem diferente: iniciámos o diálogo com o setor e tentámos consensualizar um conjunto de metas que fossem consideradas viáveis do ponto de vista tecnológico pela indústria e que fossem consideradas significativas para poderem ter um impacto relevante na saúde da população.
Gostou deste conteúdo? Junte-se à nossa missão!
Subscreva já e faça parte da mudança. Saber é poder!
|
O conteúdo deste artigo pode ser reproduzido para fins não-comerciais com o consentimento expresso da DECO PROTeste, com indicação da fonte e ligação para esta página. Ver Termos e Condições. |