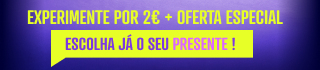Maria João Valente Rosa: "Devíamos festejar o envelhecimento"
Sinal de desenvolvimento, o envelhecimento da população exige transformações profundas na forma de pensar a vida e a sociedade. As vidas longas são, hoje, muito desaproveitadas, porque "vivemos mais virados para as próximas eleições do que para as próximas gerações", critica Maria João Valente Rosa.

Doutorada em Sociologia, com especialidade em Demografia, Maria João Valente Rosa é professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais.
Como caracteriza a estrutura etária em Portugal? E qual a evolução expectável?
Temos um número baixo de jovens, por comparação com as pessoas de idades superiores. No último recenseamento, em 2021, por cada cem jovens com menos de 15 anos, havia 182 pessoas com 65 anos ou mais. Na União Europeia (UE) a 27, somos o segundo país com o valor mais elevado neste indicador. O primeiro é Itália. E espera-se que, em 2040, este índice suba para 259. A idade mediana é de 46,8 anos, o que quer dizer que metade da população tem abaixo dessa idade, e a outra metade, acima. São mais 4,7 anos do que em 2012. Também aí somos o segundo país com o valor mais elevado da UE, a seguir a Itália. Espera-se ainda que, até 2040, o número de pessoas abaixo dos 60 anos diminua, e que acima dos 60 anos aumente. A redução significativa da mortalidade pode explicar isto. São mais as pessoas a conseguirem atingir idades superiores e, nesse patamar, a poderem esperar viver mais anos. Por outro lado, temos baixos níveis de fecundidade. Para que a substituição de gerações se assegure, cada mãe deve deixar, em média, 2,1 filhos... porque nascem mais rapazes do que raparigas, é preciso que a mulher tenha mais do que dois filhos, para garantir a substituição de gerações. Ora, no quadro da UE, já nenhum país tem assegurada a substituição.
A baixa natalidade é negativa?
Diria que não. São os países mais pobres que têm níveis de natalidade mais elevados. A baixa da natalidade acompanha o desenvolvimento das sociedades. Desse ponto de vista, diria que não é negativo.
O filho passou a ser uma decisão muito planeada. A criança perdeu o valor económico que tinha – era mais um bracinho para trabalhar, um fator de segurança na velhice, etc. Hoje, a criança tem um valor emocional. Quando os filhos nascem, quer-se que sejam projetos o mais bem-sucedidos possível. Ter poucos não é sinal de que não se goste de crianças, até pode ser o contrário. Em 2019, o INE realizou um inquérito à fecundidade e percebeu-se que grande parte das mulheres e dos homens queria ter, pelo menos, um filho, mas a maioria ainda não tinha nenhum. As pessoas têm o primeiro filho tardiamente, porque vão adiando, pela questão profissional, para que seja criado nas melhores condições, etc., mas, depois, muitas vezes, não transitam para o segundo ou o terceiro. Numa situação em que há elevados níveis de precariedade no emprego, em especial nos jovens, é compreensível. Mas existem outros fatores. A conciliação de tempos de trabalho pago e não pago, nomeadamente, no cuidar dos filhos, é algo que está assimetricamente distribuído no espaço doméstico. As mulheres entraram em força no espaço público, mas os homens não entraram com a mesma intensidade no espaço privado. Grande parte das responsabilidades, como ficar em casa quando a criança está doente, levá-la ao médico, etc., acabam por ser asseguradas pela mulher.
Independentemente do nível de educação?
Sim, embora menos, quando se é mais escolarizado. Em coisas tão simples como as reuniões de escola, se uma mãe está permanentemente ausente, das duas uma: é uma pessoa doente ou tem enormes responsabilidades públicas, e aí é altamente reconhecida. Se tem as mesmas funções que o marido, então, por que razão não é ela a ir? A própria mulher sente-se culpada. Ser boa mãe ou boa profissional é uma equação que continua difícil de resolver, quando se é mulher com filhos pequenos. É cultural. Sociedades mais igualitárias são mais amigas da natalidade e da criança.
Não menos importante é o apoio à primeira infância. Se temos um filho e trabalhamos, onde fica a criança? Queremos que fique bem, em segurança, e queremos ter tempo para ela. A intensidade do trabalho nas idades centrais [da vida], muitas vezes, retira tempo para estarmos com a família e para desenvolvermos outros projetos. A habitação também joga contra [a natalidade], porque um filho não se arruma, precisa de um espaço mínimo.
Apesar de tudo, defende que o País não estará tão envelhecido como aparenta.
Normalmente, avaliamos as estruturas etárias com base em critérios fixos, rígidos, que parecem imunes às mudanças do tempo. E, então, comparamos territórios e tempos que nada têm que ver uns com os outros. Ou seja, classifico, em termos estatísticos, as pessoas idosas como sendo as que têm 65 anos ou mais. Isto começou a ser utilizado pelas Nações Unidas em meados dos anos 40 do século passado. Ora, uma pessoa com 65 anos, hoje, nada tem que ver com uma pessoa [da mesma idade] em meados dos anos quarenta. O tempo à nossa frente é completamente diferente. E hoje as pessoas com 65 anos estão mais próximas das tecnologias e muito mais escolarizadas. Muito mudou, mas os critérios estatísticos não. Como a idade de aposentação dos funcionários públicos, aos 70 anos. Fui ver quando tinha sido imaginado e dei com o decreto, de 1929.
A reforma compulsiva?
Sim. Ora, de 1929 para hoje, passou-se quase um século. Há critérios que ficaram congelados no tempo, apesar de a sociedade ter mudado muito. Um dos fatores dessa mudança é a redução da mortalidade. A mortalidade ter baixado não é só sinal de que as pessoas passaram a ter mais saúde, é um indicador da alteração das formas de vida. Se a mortalidade é baixa, é natural que existam mais pessoas nas idades superiores. Há quem proponha que a entrada no grupo de idade idoso, para efeitos estatísticos, deva ser considerada em termos, não da idade cronológica, mas do tempo médio que se pode esperar viver. Por exemplo, uma idade prospetiva de 15 anos. Ou seja, numa sociedade, é a partir dos 72, noutras, a partir dos 60, noutras ainda, a partir dos 80. É olhar para os idosos não em função de um critério fixo, a idade de nascimento, porque não tem em conta as diferenças entre sociedades e tempos, mas em função daquilo que é a expectativa de vida. No medidor que concebi, o raciocínio é o mesmo. No entanto, o que tenta verificar é se a nossa estrutura etária está ou não desadequada face à mortalidade, que é baixa. A fórmula diz se tenho uma maior percentagem de idosos do que seria expectável e uma menor percentagem de jovens, de acordo com a mortalidade do País. A conclusão que retirei para Portugal é que não temos pessoas a mais nas idades superiores. Temos, de acordo com a nossa mortalidade, uma estrutura etária adequada à mortalidade. E, como ninguém quer abrir mão, e bem, da [baixa] mortalidade, porque todos gostamos de viver mais tempo, então, temos uma alternativa, que é adaptarmo-nos à realidade. Porque, de facto, o modo como os grupos estão estruturados não difere daquilo que seria expectável.

Propõe, então, uma alteração dos grupos etários.
Sim, para efeitos estatísticos. Dizem-nos que temos cada vez mais pessoas com 65 ou mais anos. É natural. Seria estranho se não tivéssemos. Por isso, para comparar com sociedades do passado ou com outros países, regiões, etc., proponho que a idade não seja a de nascimento, mas, por exemplo, a tal idade prospetiva. Para medir os níveis de envelhecimento do País, vamos ver se temos, realmente, excesso de pessoas nas idades superiores. Por isso, proponho que as nossas lentes mudem, porque já não captam aquilo que é suposto captarem.
E estamos a lidar bem com o envelhecimento? Quais os desafios que se colocam?
Acho que não estamos a lidar muito bem. Estamos muito angustiados com o processo e a atribuir ao envelhecimento demográfico todos os problemas sociais. Ficaria preocupada era se não estivéssemos a assistir a um aumento de pessoas nas idades superiores. Portugal era, em 1960, dos países menos envelhecidos da UE, mas pelos piores motivos. Tínhamos uma pobreza extrema, éramos um país atrasadíssimo. O envelhecimento tem que ver com o desenvolvimento. Por isso, devíamos estar a festejar este processo demográfico, que decorre de alterações da sociedade. E que alterações maravilhosas, digo eu, porque estou contente por viver aqui e não nos anos 60. Mas uma parte da estrutura da organização social parece que ficou imune à mudança. E é aí que o problema começa. O envelhecimento, ou esta alteração da estrutura etária, é como se fosse um despertador. Decorre de conquistas e de progressos sociais importantes, e é um despertador que já tocou há bastante tempo.
Há duas reações possíveis: fingimos que não tocou e atrasamo-nos, com todas as consequências, ou acordamos para uma realidade diferente e tentamos adaptar-nos. Ora, continuamos a funcionar, de uma maneira geral, como funcionávamos. A Segurança Social serve de exemplo. Continua com as fórmulas e com o modo de raciocinar que tinha quando o princípio foi criado. [Nessa altura] as pessoas viviam muito pouco tempo, depois de se reformarem. O que importava era a força física. A capacidade de conhecimento era pouco relevante. Existia uma adaptabilidade elevadíssima e substituição de gerações. Saíam muito menos das idades ativas do que os que entravam. Hoje, não é o que acontece, mas a fórmula utilizada nesse passado continua a mesma, apenas com ajustes: ora aumentamos um bocadinho a idade da reforma, ora baixamos as pensões, ora aumentamos as contribuições... A solução do problema não está em continuar a ajustar a fórmula, mas em revermos os seus princípios. Estamos a desperdiçar incrivelmente uma parte importante do nosso capital humano. Com a idade fixa de reforma, estamos a dizer à pessoa que, a partir de certo momento, "já não interessa". Mesmo que a pessoa queira continuar e tenha ainda muito para dar. As Nações Unidas estimaram que afastar estas pessoas do contributo que poderiam dar custa anualmente milhares de milhões de dólares. Aliás, a reforma, tal como existe hoje, coloca as pessoas numa situação de vulnerabilidade e de dependência financeira enorme em relação aos outros e à sociedade.
Haver mais pessoas nas idades superiores representa um bónus de vida. É uma oportunidade, como nunca tivemos, de haver pessoas de múltiplas gerações a conviverem. Falta-nos coragem para mudarmos toda a organização do ciclo de vida. Como dizia um ex-comissário da Comissão Europeia, "todos sabemos o que é preciso fazer, só não sabemos como sermos reeleitos depois de o fazermos". Vivemos mais virados para as próximas eleições do que para as próximas gerações, e acabamos por não fazer mudanças de fundo, que levam anos a produzir efeito e que, no imediato, mal explicadas, podem ser impopulares.
Como nos preparamos?
Diria que temos de redesenhar o nosso mapa de vida – o modo como nos arrumamos na vida –, que, mais uma vez, foi herdado de um passado que não tem nada que ver com os dias de hoje. Tínhamos uma idade para estudar, uma idade para trabalhar e uma idade para descansar, que era quase um fim de vida. Eram fases que correspondiam a idades precisas. Combinar, em todas as idades da vida adulta, estes vários conteúdos é essencial. A começar pela formação, pois o conhecimento é um valor crucial para nos adaptarmos à mudança. A sociedade de hoje é sustentada no conhecimento, que, além de não ter idade e de ser um valor cumulativo, precisa de ser alimentado permanentemente. E a mudança é muito rápida. O que hoje é importantíssimo amanhã é acessório. Precisamos de formação ao longo da vida. E não é um complemento, é estruturante. Mas precisamos de tempo. O trabalho, em vez de estar tão concentrado nas idades centrais, poderia ser mais dilatado ao longo da vida.
Que importância poderá ter a emigração no rejuvenescimento da população?
A emigração pode atenuar os níveis de envelhecimento, principalmente se for uma imigração de tipo laboral. Isto vai fazer com que as idades ativas, que estão em declínio, possam ser compensadas. As idades centrais estão a diminuir, em virtude de estarem a chegar a essas idades pessoas que já nasceram em período de natalidade reduzida, e às idades superiores, pessoas que nasceram em períodos de natalidade elevada.
As idades mais ativas são também mais férteis. Segundo os últimos dados, 13,6% dos nascimentos em Portugal ocorreram entre mães de nacionalidade estrangeira, o que acaba por ter um efeito indireto não menos importante sobre o atenuar da diminuição dos nascimentos. E as mulheres com essas características representam cerca de 5 por cento. Mas o rejuvenescimento da população não está em cima da mesa. Aliás, porque os imigrantes também envelhecem, muitas vezes nos territórios de acolhimento.
O fator que poderia contribuir para que a população não envelhecesse é aquele que todos não queremos que aconteça, ou seja, que deixemos de ter os ganhos fantásticos, ao nível da mortalidade, que temos tido ao longo destas décadas. Disso ninguém quer abrir mão, e bem. Isso é um princípio de sociedade. Até 2040, 2050, altura em que estas gerações muito numerosas vão atingir as idades superiores, vamos ter sociedades com cada vez mais pessoas nas idades superiores, e tanto mais quanto os avanços possibilitados pelo aumento do tempo de vida.
Mas os imigrantes têm tido um papel importantíssimo em termos da Segurança Social. Se virmos as contribuições sociais e os benefícios das populações de nacionalidade estrangeira que trabalham em Portugal, o saldo é positivo, e muito positivo. Ajudam, de algum modo, às contas da Segurança Social. Têm múltiplos contributos. Na demografia, no trabalho, na qualificação e também na capacidade empreendedora. Mas, continuamos a ter dois pesos e duas medidas: quando olhamos, por exemplo, para os salários, percebemos que não é indiferente ser-se nacional ou estrangeiro, mesmo que os trabalhos sejam idênticos.
Como encara o envelhecimento ativo? É só alimentação equilibrada e exercício físico?
É bom, claro, que as pessoas vão para a ginástica, que se envolvam em passatempos... a alimentação equilibrada é importantíssima. Mas isso não basta. A vida tem de ser vista como um todo. Não aos solavancos, como agora acontece, em que a formação, o trabalho e o lazer aparecem em momentos separados. Temos de pensar que estes bónus de vida não é mais tempo para se ser velho, mas mais tempo para se viver em todas as fases de forma plena.
Discute-se a necessidade de políticas públicas. Que recomendações faria?
Uma aposta forte na componente da formação para ajudar as pessoas não só a atualizarem conhecimentos, como também a adquirirem novos. Depois, tudo o que tem que ver com o apoio à transição dentro da atividade: criar centros de orientação profissional, onde as pessoas possam encontrar ajuda para construírem planos de futuro. Também daria o conselho de rever conteúdos nas escolas. Vidas mais longas significam, também, tempos mais incertos e mais exigentes. Seria muito importante que a área das multitrajetórias e das incertezas fosse trabalhada nas escolas, desde que se é pequenino. Proporia apoiar iniciativas de empresas que juntassem gerações, promover o trabalho por objetivos, e não por tempos – nisto, os governos podem ser os primeiros a dar o exemplo –, promover parcerias entre o público e o privado, de agências de emprego e instituições de formação.
No fim disto tudo, um dos conselhos que gostaria de deixar era a criação de um Conselho Superior de Vidas Longas [já existente no Japão], para desenhar novos mapas de organização do ciclo de vida, atendendo ao importante, e não necessariamente ao urgente, para o nosso futuro coletivo.
Gostou deste conteúdo? Junte-se à nossa missão!
Subscreva já e faça parte da mudança. Saber é poder!
|
O conteúdo deste artigo pode ser reproduzido para fins não-comerciais com o consentimento expresso da DECO PROTeste, com indicação da fonte e ligação para esta página. Ver Termos e Condições. |