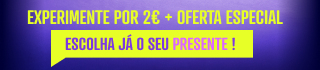Manuel Abecasis: "Registo de dadores português está entre os cinco primeiros da Europa"
Para tratar e curar leucemias e outros cancros do sangue, o transplante de medula óssea é precioso. Os portugueses são sensíveis a campanhas de doação, afirma Manuel Abecasis, pioneiro destes transplantes em Portugal.

Arranque do transplante de medula em Portugal
Fez o primeiro transplante de medula em Portugal...
Foi em 1987. Na altura, eu estava no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa e tinha sido convidado pelo doutor Francisco Gentil Martins para montar o programa de transplantação de medula óssea do IPO, que foi pioneiro em Portugal. O primeiro caso foi-nos proposto pelos nossos colegas do Serviço de Pediatria. Era uma criança com seis anos e que tinha uma leucemia aguda.
Como foi a experiência? O dador era um familiar?
Os tratamentos de leucemias agudas diferem um pouco daquilo que se faz hoje em dia. As famílias, hoje, são muito pequenas. Naquela altura, ele tinha quatro ou cinco irmãos. E, portanto, isso possibilitou que um dos irmãos fosse compatível. Saí do IPO em dezembro de 2020. Nessa altura, os transplantes com irmãos eram à volta de um terço dos que fazíamos. A maior parte deles eram com dadores não relacionados. Isto não é uma situação única em Portugal; passa-se em todos os países desenvolvidos. Verificamos que, de facto, em praticamente todo o mundo são feitos mais transplantes com dadores não relacionados, que são encontrados num banco ou num registo de dadores voluntários. E isto funciona articulado em rede. Neste momento, há mais de 40 milhões de voluntários no mundo inteiro. E Portugal tem um registo de dadores voluntários também, que funciona no Instituto Português do Sangue e da Transplantação, e que interage em rede com todos os outros registos mundiais. Isto significa que os nossos doentes têm acesso a dadores que podem estar numa parte muito diferente do mundo, da mesma maneira que há doentes de outros países, distantes. Já chegámos a enviar células para um doente da Nova Zelândia.
E como foi a recuperação desse primeiro doente?
Foi boa, excelente. Teve alta, se não me engano, um mês ou um mês e meio depois do transplante. Infelizmente, esta criança, um ano depois de ter sido transplantada, veio a ter uma recaída da doença e acabou por morrer. Mas o transplante em si funcionou bem... Em alguns casos, o transplante pode não corresponder a uma cura. Pode haver recaída de doença. Essa recaída é mais frequente nos primeiros 12 meses que se seguem ao transplante. A partir daí, torna-se cada vez menos habitual.
Em caso de recaída, pode fazer-se novo transplante?
Já temos ao nosso dispor outras armas que, por vezes, nos permitem controlar a situação sem recorrer a um novo transplante. Ele é antecedido, em geral, por um tratamento muito intensivo, que tem por objetivo destruir completamente as células [malignas]. Mas isso nem sempre é suficiente, porque sabemos que algumas delas podem ser resistentes a esse tipo de tratamento. A estratégia do controlo de uma recaída ou do seu tratamento depois do transplante passa por várias etapas. A primeira consiste em parar toda a medicação imunossupressora que o doente está a fazer. Fazemo-la porque, caso contrário, não só o transplante podia ser rejeitado, como também, quando fazemos um transplante de medula, fazemos ao mesmo tempo um transplante do sistema imunitário do dador. Ora, esse sistema imunitário vai reconhecer o organismo do doente como sendo estranho e pode reagir contra ele, dando origem a uma das complicações mais temíveis, a doença do enxerto contra hospedeiro. É interessante que o sistema imunitário do dador, sendo saudável, vai não só reconhecer o organismo do doente, mas também e sobretudo, as células malignas. Vai destruí-las e sabemos que, por vezes, aquelas células que resistem à preparação para o transplante podem ser eliminadas pelos linfócitos do dador. Fazemos uma escalada progressiva de tratamentos, tentando controlar a recaída.
Que outras alternativas existem?
Paramos a medicação e vemos se os linfócitos-T do dador só por si conseguem eliminar a doença. Caso isso não aconteça, o outro passo é pedirmos ao dador para colaborar novamente connosco. Se estiver de acordo, recolhemos os linfócitos do dador para potenciar o sistema imunitário. Isso implica mais um incómodo para ele, sobretudo se for internacional. Nesse caso, temos de contactar os nossos colegas de outro país e perguntar se o dador está disponível ou não. No caso de ele estar, podemos dar esse segundo passo. Por vezes, isso também não é suficiente, e aí podemos utilizar novamente alguma quimioterapia e em seguida, então, um segundo transplante. Hoje, há medicamentos desenvolvidos para o tratamento das leucemias agudas, que têm por alvo alterações moleculares que estão presentes nas células leucémicas. São quase uma bala mágica.
Quem é Manuel Abecasis?
Médico hematologista, é atualmente o presidente da Associação Portuguesa Contra a Leucemia (APCL). Foi responsável pela criação do primeiro centro de transplante de medula óssea, no IPO de Lisboa, e pelo primeiro transplante ao nível nacional.
Como é feita a doação de medula óssea
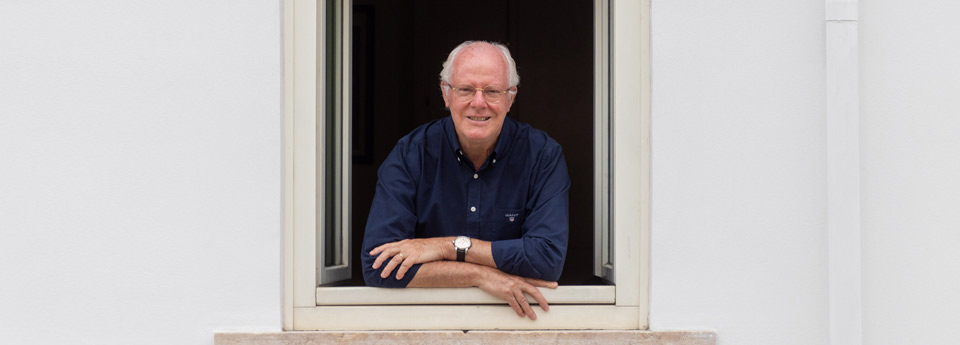
A doação é feita só através da recolha de sangue?
Maioritariamente, mas não só. As células podem ser obtidas essencialmente por dois processos: o clássico, que é nós irmos aos ossos da bacia do dador, que é submetido a uma anestesia geral, é levado para um bloco operatório e nós, através de agulhas que são depois introduzidas nos ossos da bacia, vamos aspirando células até termos a quantidade suficiente. O outro processo é conseguirmos fazer com que essas células, que estão no interior dos ossos, se soltem e passem para o sangue, através da utilização de um medicamento que administramos ao dador, que ao fim de quatro a cinco dias já tem quantidade suficiente células no sangue que permitem fazer o transplante. Quando estamos perante um dador, damos-lhe sempre a escolher. Há pessoas que preferem fazer a colheita de medula óssea e não querem estar a fazer as injeções com o tal medicamento que faz estimular as células para passarem para fora. O dador é sempre soberano na escolha do processo que quer. A colheita na veia periférica é, de longe, a mais frequente: 80% dos transplantes são feitos com células colhidas na veia do braço.
A colheita implica algum risco para o dador?
Não. A quantidade de células que colhemos é inferior a 1% das células do dador e, ao fim de quatro ou cinco dias, a pessoa já repôs o seu reservatório. O que existe é um pequeno risco associado a uma anestesia geral.
E há reações adversas ao medicamento?
Em geral, o medicamento é muitíssimo bem tolerado, porque é uma cópia de uma substância que o nosso organismo produz.
Há dadores que, à última hora, desistem?
Felizmente é raro, mas já tem acontecido e, nessas circunstâncias, tenta-se rapidamente encontrar uma alternativa. Hoje em dia, estas pesquisas de dadores são processadas por supercomputadores. São muito rápidas. Conseguimos em quatro, cinco dias, às vezes menos, saber se há outro doador que possa, eventualmente, substituir aquele que desistiu. Até pode acontecer outra coisa: o doador ter um acidente, por exemplo. É evidente que a vontade do dador é sempre respeitada. O que lhe dizemos é que há um momento a partir do qual, se ele desistir, a vida do doente pode ficar em risco. Portanto, tem de desistir preferencialmente antes de chegar a esse ponto crítico. Mas é livre de desistir mesmo depois.
Conhece algum caso?
Há uns anos, tínhamos uma doente de Estocolmo e um dador nosso para ela. Era um rapaz novo, creio que era polícia, morava na periferia de Lisboa. E veio. Começámos o processo de mobilização, com as tais injeções para ter células de sangue periférico. E é raríssimo, mas aconteceu não conseguirmos obter células. Portanto, a única alternativa era levá-lo ao Banco do Porto e tirar as células da bacia. Tínhamos de lhe explicar tudo isso. E ele confessou que estava um bocadinho hesitante em ir, porque a mulher lhe tinha dito que iria ficar paralítico. Ele perguntou se teria de ficar no hospital de um dia para o outro. Dissemos-lhe que sim, que entraria no bloco operatório à tarde e sairia no dia seguinte. Ficou assustado: “O que é que a minha mulher vai dizer? Senhor doutor, se não se importa, pode ligar-lhe a explicar?” [risos] Expliquei-lhe tudo, e ela perguntou se poderia vir ao hospital vê-lo. “Pode, com certeza...”. Veio, expliquei-lhe novamente tudo e ela disse “se ele quiser, tudo bem, não há problema.” [risos] Quando fui dar alta ao rapaz, ele disse: “Senhor doutor, não imagina como fiquei aliviado, porque, se não tivesse dado, e sabendo que havia outra pessoa cuja vida podia depender disto, era, para mim, uma marca, nunca mais me deixaria.”
É por receio que há desistências?
Nunca perguntamos ao dador porque desistiu. Faz parte das regras. Portugal tem neste momento perto de 390 mil dadores voluntários, e o número de pessoas que foram chamadas para fazer doação não sei se já terá chegado às mil.
Há quantos anos? Desde que o banco foi criado?
O banco foi criado em 1995, mas chegámos a 2004 e havia mil pessoas inscritas. Nessa altura, aconteceram vários casos, alguns bastante mediáticos. O filho do Carlos Martins, o jogador de futebol, que precisou de fazer um transplante, por exemplo. E houve um crescimento muito grande de pessoas que se disponibilizaram. Dizemos aos dadores que não vão doar a uma pessoa em específico, mas para quem lhes for pedido. E só aceitamos as pessoas que se inscrevam nessa condição.
Quanto tempo demora a preparação para a dádiva?
Mais ou menos, duas a quatro semanas. O dador tem uma consulta rigorosa, em que é avaliado, não só pela equipa de transplante, mas também por uma equipa de cardiologia, de anestesia… e faz um conjunto de exames, análises de sangue, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, uma ecografia abdominal... para ver se está tudo bem. Depois, se estiver tudo bem, perguntamos ao dador quais as datas que tem disponíveis. Cinco dias antes de fazermos a colheita, começamos a fazer o tratamento com as injeções [para estimular a produção de células]. É muito simples, é uma injeção subcutânea. Damos seringas pré-carregadas com esse fator de crescimento. E o dador é ensinado a fazer ele próprio a injeção. A maior parte das pessoas fazem-na no hospital no primeiro dia, depois levam-na e fazem em casa.
Em relação aos doentes, há uma janela temporal em que pode ser feita a transplantação?
Há um timing durante o qual os resultados com o transplante são melhores. Não quer dizer que, ultrapassado este timing, a pessoa não possa ser transplantada. Mas os resultados não são tão favoráveis. Depende de caso para caso. Por exemplo, um doente que entra na nossa lista de transplante pode ser transplantado depois de um doente que entra bastante mais tarde. Porque a gravidade desse outro exige uma resposta imediata, enquanto o primeiro pode ser adiado dois ou três meses, não fará grande diferença.
Quanto tempo se conserva uma amostra?
O ideal é ser transfundida no próprio dia, nas semanas que seguem. Os concentrados eritrocitários [componentes do sangue] podem aguentar duas a três semanas, mas vão perdendo progressivamente a viabilidade. As plaquetas aguentam-se três ou quatro dias, no máximo. Portanto, pode haver stocks, mas não são muito duradouros.
Registo Português de Dadores de Medula Óssea

As pessoas são sensíveis às campanhas?
Sim. A Associação Portuguesa contra a Leucemia (APCL) teve um papel muito importante, porque não havia recursos para tipar num número tão grande de dadores. Lançámos várias campanhas para a angariação de fundos e conseguimos com isso comprar equipamento que, na altura, era de última geração; comprar reagentes para utilizar esses equipamentos; e também contratar pessoas temporariamente para fazer face ao fluxo grande de dadores.
Há uma espécie de “prazo de validade” para os dadores? São 45 anos? Depois, as amostras são deitadas fora?
Não... Esse é um dos mitos associados. Os 45 anos são só para a inscrição. E depois, até aos 55, em geral [podem doar]. Acima dos 55, é que já não. Há razões complexas, que se prendem com a capacidade regenerativa das células... Sabemos, por exemplo, que, se tivermos a possibilidade de escolher entre dois dadores, os resultados com o mais novo são sempre mais favoráveis.
Como estamos, em número de dadores, em comparação com outros países?
O registo português está entre os cinco primeiros da Europa. O alemão tem perto de quatro milhões de pessoas inscritas. O inglês tem à volta de dois milhões. Depois vêm o italiano e o espanhol.
Uma vez recolhida a amostra compatível, como se processa esse transporte?
Colhemos as células, e o centro que vai transplantar o doente manda um correio ter connosco. E, hoje, até há empresas com profissionais que fizeram formação. Portanto, eles vêm de avião buscar as células e voltam para o país de origem. As amostras são transportadas à temperatura ambiente e não podem ser irradiadas. Portanto, [não podem passar] naquelas máquinas de segurança dos aeroportos. Contactamos as autoridades, quando está marcada uma colheita, na véspera, ou dois dias antes, falamos com a segurança do aeroporto de Lisboa e mandamos a documentação. Dizemos que vai embarcar uma pessoa que vai levar um produto devidamente identificado que não pode ser exposto a radiações. A pessoa leva as células, identifica-se, e passa. A amostra é transportada com placas de arrefecimento à temperatura ideal, entre quatro e oito graus. A vitalidade destas células vai diminuindo com o passar do tempo, mas temos a certeza de que aguentam, no mínimo, 48 horas. Depois, informam-nos se o transplante funcionou bem, se houve complicações… Há um feedback transmitido de forma anónima.
Quantos transplantes são feitos, em média, em Portugal?
Penso que entre 500 e 600 por ano. Há dois tipos de transplantes: os autólogos, que são feitos com células do próprio; e os alogénicos, que são feitos com células de um dador saudável. Em Portugal, aproximadamente 60% são autólogos e 40%, alogénicos. Em transplantação autóloga, estamos praticamente na média europeia. Em transplantação alogénica, estamos um bom bocado abaixo. Há falta de capacidade de resposta. Isto gera lista de espera.
Há falta de capacidade dos serviços?
Exato. O IPO de Lisboa vive esse drama diariamente. Tem doentes em lista de espera, e alguns deles até acabam por perder a oportunidade de fazer o transplante, porque não há capacidade de resposta dos serviços para todas as solicitações que têm. Isto é mais evidente no sul do País. Só há seis centros de transplantação em Portugal, dois no Porto [Hospital de São João e IPO do Porto], um nos hospitais da Universidade de Coimbra, mas só faz transplantação autóloga, e três em Lisboa, o IPO, [o hospital dos] Capuchos e o [hospital de] Santa Maria. O dos Capuchos só faz transplantação autóloga. Portanto, em Portugal, a fazerem transplantação alogénica, que é mais complexa, mais exigente, há quatro centros. Logo, o número de transplantes alogénicos feito anualmente não corresponde às necessidades que existem. No privado, não existe este tipo de transplante.
Temos perto de 390 mil dadores voluntários de medula óssea. Estamos entre os cinco primeiros da Europa.
Utilidade do sangue do cordão umbilical
O sangue do cordão umbilical pode ser uma alternativa terapêutica?
Os bancos de sangue do cordão umbilical, anónimos, que, há anos, tiveram um boom enorme em muitos países, não eram economicamente sustentáveis. E foram falindo. Tem havido uma concentração dos bancos. Em França, por exemplo, houve vários que se concentraram num só, para uma tentativa de otimizar os recursos. E, mesmo assim, a viabilidade financeira é muito precária. O sangue do cordão umbilical é útil para situações muito, muito específicas. E, em muitas delas, há alternativas.
Falou-se da criação de um banco público há uns anos. Chegou a funcionar?
É uma situação muito delicada. Na minha opinião, não se justifica que um país como Portugal faça um investimento desses. Porque temos à disposição, neste momento, à volta de um milhão de sangues de cordão umbilical no mundo inteiro, que podemos ir buscar. E há estratégias alternativas, os chamados transplantes haploidênticos, desde 2010. Quando começámos a fazê-los no IPO, em 2014, os transplantes de sangue de cordão umbilical praticamente desapareceram. O haploidêntico é um paradoxo. Porque uma das regras do transplante alogénico é haver uma compatibilidade o mais parecida possível entre o doador e o recetor. Os transplantes haploidênticos vieram passar uma esponja sobre isto. São feitos com doadores familiares, não são doadores de bancos, mas que só são compatíveis em 50 por cento. Em situações em que não é possível encontrar um dador compatível no tal universo de milhões, podemos considerar a hipótese de fazer um transplante com o filho do doente, ou, se for uma criança, com o pai, a mãe… ou um irmão que seja só 50% compatível. Portanto, não há nenhum doente que não tenha um dador, embora, no estado atual dos conhecimentos, os resultados do transplante feito entre dadores absolutamente idênticos são melhores do que dos haploidênticos.
|
O conteúdo deste artigo pode ser reproduzido para fins não-comerciais com o consentimento expresso da DECO PROTeste, com indicação da fonte e ligação para esta página. Ver Termos e Condições. |