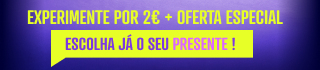Miguel Vale de Almeida: “As mentalidades não mudam, apercebemo-nos da mudança”
Direitos reprodutivos, igualdade de género, casamento entre pessoas do mesmo sexo, defesa das minorias... A lei tem alargado direitos a quase todos os cidadãos. Mas a mudança de mentalidades só se nota olhando em retrospetiva. Miguel Vale de Almeida dedicou-se a estas causas.

Direitos de género
O que se entende por direitos sexuais, conceito tão abrangente e abstrato?
O primeiro sentido, historicamente, é o dos direitos reprodutivos. Questões como o aborto e a contraceção, etc. E a proteção em relação à violência sexual. E é o que abrange mais pessoas, neste caso, as mulheres. Depois, acrescenta‑se a liberdade de orientação sexual. Tudo o que tem que ver com a identificação das pessoas em termos da sua sexualidade. Aí, os direitos sexuais seriam, justamente, descriminalizar a homossexualidade e a bissexualidade, o que foi, de facto, uma luta muito grande. Despatologizar, também, foi outra questão que se colocou durante muito tempo. E, finalmente, fazer com que essa categoria de pessoas pudesse aceder ao mesmo tipo de direitos cívicos e civis, que têm que ver com a sua natureza, com aquilo que elas são. Relações românticas, relações sexuais, são também, potencialmente, relações conjugais, que são relações de família e de parentalidade. Mas aí eu já não lhe chamaria direitos sexuais, já chamaria igualdade cívica.
O que leva os Estados a legislar sobre decisões que, à partida, cabem aos indivíduos?
Os Estados, e antes deles, as igrejas, sempre legislaram em torno da intimidade das pessoas, dizendo quem é que podia casar com quem, que atos sexuais é que eram permitidos ou não. Mesmo no caso da heterossexualidade, o que era punido ou não, o que era considerado doentio, ou mesmo criminoso ou pecaminoso. Por exemplo, a categoria de sodomia durante muito tempo não queria dizer sexo anal necessariamente, mas todo o sexo que não potenciasse a reprodução. Sempre houve essa legislação da intimidade e sempre houve uma passagem de intimidade para o público, nomeadamente através da publicitação das relações, do casamento.
No fundo, essa orientação sexual era a legal.
Claro. A outra, durante muito tempo, nem existia. O conceito de orientação sexual é muito recente, só existe a partir do momento em que se considera que a existência das pessoas gays e lésbicas passa a ser uma categoria. Havendo uma categoria de orientação sexual, as leis e os Estados, e as igrejas, vão definir que uma é permitida e a outra não.
A evolução política, com a crise nas democracias liberais e os discursos de ódio, põe em risco estes direitos?
Sim, completamente. Sobretudo porque estes movimentos populistas são absolutamente ausentes em relação às questões socioeconómicas. Se os ouvirmos, não dizem nada sobre isso, são perfeitamente capazes de subscrever o poder dos bancos e do grande capital, e se disserem alguma coisa que parece crítica, tem que ver com a questão demagógica da corrupção. Mas não tocam nas relações de classe social, nem na questão da economia política, nem na economia de mercado, nem no capitalismo neoliberal. Toda a sua estratégia política é feita da questão dos valores, focando‑se muito em tudo o que está relacionado com o género e a sexualidade. Um exemplo muito forte é Bolsonaro, a maneira como conseguia mobilizar o populismo através da denúncia, da propaganda da homossexualidade, por exemplo, nas escolas. E Putin faz o mesmo. E quando criam uma espécie de inimigo externo é sempre em função dessas questões. E de outras, como a imigração, o racismo...
Há quem se refira a todos os que defendem as minorias como a cultura “woke”, como alguém que está a travar uma guerra cultural contra "nós", os tais que constituem a maioria na sociedade, como se fossem homogéneos. Segundo esses críticos, agora tudo é discriminação.
Isso começou já nos anos 70, com o politicamente correto, que era, fundamentalmente, uma forma de exigir respeito nas formas como se tratavam as pessoas que pertenciam a grupos que estavam de alguma forma subalternizados, e que eram sempre achincalhados. E isso foi rapidamente invertido pelos adversários das ideias politicamente corretas, gozando com isso, achando que isso era ridículo. E, depois, usando a própria expressão para querer dizer hipocrisia, quando na realidade não era essa a sua origem. Hoje isto está mais forte porque já não é só através da ridicularização, agora é colocarem-se no papel de vítima, queixando-se de ausência de liberdade de expressão, de espontaneidade, autoritarismo. Porque, depois, isso pode aparecer como uma obrigação nas relações laborais, na escrita, na censura, etc. E, de repente, estamos numa situação um pouco bizarra, em que aqueles que têm, à partida, o privilégio dizem que estão a ser vítimas, mas estão a ser vítimas da perda do privilégio. Isso não é ser vítima...
Não existe, por outro lado, uma insistência na questão das minorias?
A política concentrada nas questões da vigilância do insulto não é uma política errada. Ela é demasiado isolada, está demasiado concentrada na linguagem e no que é que as pessoas chamam umas às outras, e no reconhecimento, e esquece muitos critérios relacionados com questões sociais e económicas, por exemplo, de classe. Esquece muito aquilo que tem que ver com a procura de uma igualdade mais neutra e mais universal. Se as exigências dos críticos fizerem parte de um pacote maior de igualdade, aí acho que é perfeito, porque tem mesmo de ser. Muitas vezes são questões em que as pessoas têm preguiça ou desprezo, e não têm vontade de mudar rapidamente. Deixámos de usar formas insultuosas de falar do corpo das pessoas, por exemplo, de serem gordas, ou de terem alguma deficiência. Eram coisas que se diziam com o maior à-vontade.
Isso traz a questão da reescrita de obras de literatura para limpar de certo tipo de linguagem. O que pensa disso?
Se for assim, à partida não gosto, e ninguém gosta. É preciso ver exatamente o que é que acontece. Isso sempre aconteceu, por razões linguísticas, mas também por razões morais, éticas, etc. Sempre houve edições diferentes. Agora, pegar numa obra que existe com uma definição canónica qualquer, e mudar em função disso, acho um erro. E é um erro desnecessário. Se fizermos toda a política em torno disso, torna-se contraproducente. É mil vezes mais produtivo manter um texto tal como está e depois fazer uma pedagogia em torno dele. É parecido com a questão das estátuas. É muito mais interessante fazer uma pedagogia em torno delas, pôr alguma coisa que explique, ou onde se mostrem pontos de vista diferentes. Hoje isso é tão fácil de fazer com aplicações, é melhor do que o derrube.
Quem é Miguel Vale de Almeida?
Antropólogo e docente no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.
Mudança de mentalidades

Apesar dos avanços legais, há países que ainda criminalizam a homossexualidade. Noutros, a discriminação, embora ilegal, continua. O que é preciso para mudar mentalidades?
Não sei. A questão não é essa, é que há países que a estão a criminalizar de novo. Só estará resolvido quando não falarmos sequer do assunto, e a ideia da orientação sexual, ela própria, desaparecer. Até lá, é uma questão política. As mentalidades não mudam, apercebemo‑nos de que elas mudaram. Não há uma estratégia concreta para mudar. Agora, há coisas que sabemos que têm efeito. Por exemplo, quando vemos pessoas de mãos dadas na rua, ou sabemos que os vizinhos do lado são um casal do mesmo sexo, isso muda. Não é que mude imediatamente, mas cria visibilidade, e a visibilidade vai criar mudança e hábito. Isso é fundamental. A outra é o reconhecimento público através do Estado e da lei. A partir desse momento, há um efeito pedagógico. Verificamos que isso existe porque, quando foi a discussão toda sobre a igualdade no acesso ao casamento civil, em todos os inquéritos de opinião, o apoio foi sempre aumentando à medida que se discutia o assunto.
Participou na elaboração dessa lei ativamente, no bloco parlamentar do PS.
Foi para isso mesmo que fui para lá. Foram anos de construção dessa estratégia no movimento LGBT. A questão do casamento era provavelmente central, que podia ajudar à mudança das mentalidades, porque lida com as relações românticas e conjugais das pessoas, com a constituição de família. Com o livre arbítrio, com as ideias, quer de amor, quer de contrato, isso toca uma campainha na comunidade inteira. As pessoas conseguem, não necessariamente empatizar, mas colocar‑se no lugar do outro porque elas próprias têm essa experiência. E o que define especificamente a questão da orientação sexual, sobretudo nos gays e lésbicas? Têm atração sexual por pessoas do seu sexo. É uma questão de sexualidade e erotismo, têm atração romântica. Aquilo que é central para conferir igualdade é justamente o reconhecimento desses aspetos de liberdade sexual e de capacidade de tornar pública a relação romântica.
O nosso Código Penal só descriminaliza a homossexualidade em 1982.
E a despatologização também só foi em 1986, na Organização Mundial da Saúde, ao nível internacional. É tudo muito tardio.
Uma questão deixada para trás no processo de democratização?
Houve uma aposta muito grande nos chamados direitos de primeira geração, o direito ao voto, liberdade, liberdade de expressão, tudo o que está na Constituição. Depois, como houve um processo revolucionário, houve uma concentração das forças políticas em tudo o que tinha que ver com a questão do regime de economia política, se era capitalismo, se era socialismo, se era revolução, se era democracia. As questões fundamentais relacionadas com a desigualdade de género faziam parte desses direitos cívicos, isto é, o direito de voto às mulheres, a sua liberdade e autonomia em relação aos maridos, a possibilidade do divórcio... Essa parte foi resolvida, mas, depois, tudo o resto era completamente esquecido. A direita não queria mexer nisso e a esquerda não ligava nenhuma ao assunto. Perdemos muito tempo. E depois, finalmente, começa a acontecer quando a democracia se estabiliza. Depois vem a questão do aborto. Foi um processo longuíssimo por causa de o primeiro referendo ter falhado, e de ter de se esperar dez anos pelo segundo.
Para muitos, a sigla LGBTQIA+ está ainda muito ligada aos direitos dos homossexuais, mas é mais abrangente, inclui os trans, assexuados, etc. Como é que a sociedade portuguesa encara estas minorias?
Há minorias e minorias. Há as minorias sociais, ou minorias nos direitos ou no reconhecimento. Às vezes são demográficas, também. As mulheres não são uma minoria. São uma minoria social. Continuam a ser vítimas de uma desigualdade muito grande, mas não são minorias demográficas. Pelo contrário. Acho que sempre houve maior visibilidade nas reivindicações dos homens gays, porque eles usavam, à partida, o capital cultural de serem homens. No Ocidente, provavelmente já não são as questões que dizem diretamente respeito aos gays e às lésbicas que estão a ser mais tratadas pelos movimentos sociais e pelas disputas políticas, e pela discussão pública, mas são muito mais as questões trans. Por um lado, porque de facto as pessoas trans eram uma minoria mais marginalizada, e fora de uma questão de orientação sexual, apenas, mas muito mais uma questão, justamente, de identidade pública das pessoas e do reconhecimento civil da sua identidade. Quanto às pessoas trans, é um arco muito grande de variação. Pode ser só uma questão de expressão de género, de transgénero sem nenhuma espécie de intervenção corporal, ou pode haver algumas intervenções corporais e outras não. Ou haver fluidez de género, em momentos da vida, do dia, etc.
Recentemente, houve uma polémica em torno do facto de uma transexual ter conquistado o concurso Miss Portugal. Discutiu‑se se seria mesmo uma mulher, se era legítima ou não. Num programa de televisão perguntou‑se: “Mas casavas com esta mulher?”
É um caso muito engraçado, porque revela, justamente, a fantasia que é a questão de género e do sexo. Se olharmos com olhos de ver, quem é que corresponde ao protótipo de mulher ou de homem? Falha sempre qualquer coisa, nem que seja uma apreciação estética, ou baseada num critério qualquer de beleza, de adequação, de atratividade. Estamos a funcionar com protótipos que não existem. À partida, ninguém é verdadeiramente o protótipo de um homem ou de uma mulher. Por isso é que temos pessoas um bocado paranoicas, que passam a vida à procura do protótipo, a transformar‑se, a fazer exercício físico. O que é engraçado é que o resultado é sempre uma coisa ainda mais fora do protótipo, uma espécie de "hipercoisa". E, por outro lado, revela também que isto é uma fantasia, para todos os efeitos. É isso que choca esses indivíduos que fazem esse comentário. Há esta espécie de verdade, agora, que é a verdade genética, aquela que, na realidade, não tem nada a ver connosco, não a controlamos. A biologia não fala, não diz nada, os genes não vêm para a televisão dizer coisas. Vivemos, de facto, numa fantasia muito grande, e isso perturba muitas pessoas, quando essa fantasia é posta em causa.
Outra polémica recente é a das casas de banho diferenciadas nas escolas. Faz sentido existirem, nesta lógica de definição cada vez mais individualizada da identidade de género?
Confesso que não me preocupa muito. Preferia satisfazer a vontade de toda a gente, que houvesse casas de banho de homens, de mulheres e neutras, e quem quisesse ir a umas ou outras ia. Acho que isso até era o mais justo. Ou não haver a distinção. As casas de banho são um universo muito estranho. [risos] Para um homem gay ou para uma mulher lésbica, as casas de banho são uma coisa esquisita, porque não são um lugar confortável.
Lei sem fiscalização
Há redes de apoio psicológico para estas vítimas de discriminação?
Sim. As associações dos movimentos sociais, LGBT, normalmente providenciam esses serviços, ou encaminham as pessoas. Mas tem de haver uma avaliação muito boa, porque pode haver muita asneira pelo meio. Um psicólogo preconceituoso, por exemplo, é um problema. Mas a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) também presta serviço a pessoas LGBTQIA+. O que não existe em Portugal, e devia, é o Estado fazer estas coisas como deve ser. Está tudo relegado para a sociedade civil. O estado recebe queixas legais de discriminação. Agora, se uma pessoa chegar a um hospital e dizer que foi vítima de um ataque, e sabe que o ataque foi homofóbico ou transfóbico, e poder dizê-lo claramente… Tudo tem de ser explicado. É uma grande confusão. As pessoas estão em situação de stress e ainda têm de passar pelo segundo stress de negociar a sua identidade com os outros, ou de lidar com pessoas que não foram treinadas para as receber.
Falta formação?
O Estado é muito simpático, faz umas leis maravilhosas de igualdade, e depois não acontece mais nada. Ações de formação, verificação da aplicação da lei, encaminhamento das queixas, pedagogias positivas, nada, não se faz absolutamente nada. Nesta área e noutras. Faz‑se um bocadinho mais quando já está mais institucionalizado a partir de grupos maiores, mas não o suficiente. Nos organismos públicos, como aqui na universidade, ou noutro qualquer, tem de haver planos de igualdade de género, mas não há. Por exemplo, para questões LGBT ou para questões raciais, não há nada.
Disse uma vez que o que lhe interessava não era tanto a luta pelo direito à diferença, mas a luta pelo direito à indiferença, para que o género deixe de ser assunto de uma vez por todas.
É o objetivo, mas é utópico, no sentido em que há de aparecer, mas está muito longe.
Em 41 anos de descriminalização da homossexualidade, com tantos direitos já consagrados na lei, que balanço faz? O que falta?
A aceitação da sociedade não se decreta. E, aliás, nessas coisas sou muito duro, não quero que as pessoas gostem de nós, não é preciso, é preciso é respeito e igualdade. Mas o que nos falta é mesmo aquilo de que estávamos a falar, a pedagogia, a verificação da aplicação das leis, formação, acompanhamento. E é isso que temos em falta.
Em todas as instituições?
Em tudo. Era preciso também haver mais investimento e apoio estatal à sociedade civil. Falta‑nos essa ambição política de dar mais valor às coisas. Isso não é maneira de tratar os problemas de desigualdade. Acho que é muito mais aí que estamos neste momento. Ao nível legal, não, está praticamente tudo feito. E isso é um motivo de orgulho muito grande para o País.
"O Estado é muito simpático, faz umas leis maravilhosas de igualdade, e depois não acontece mais nada. Ações de formação, verificação da aplicação da lei, encaminhamento das queixas, pedagogias positivas, nada, não se faz absolutamente nada"
|
O conteúdo deste artigo pode ser reproduzido para fins não-comerciais com o consentimento expresso da DECO PROTeste, com indicação da fonte e ligação para esta página. Ver Termos e Condições. |